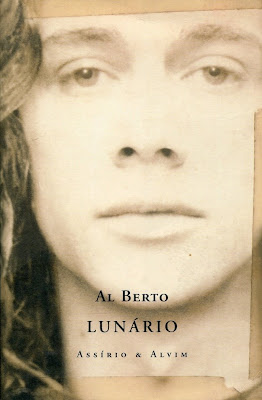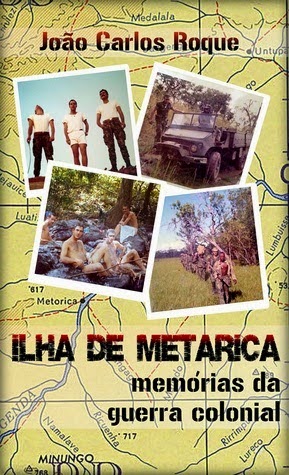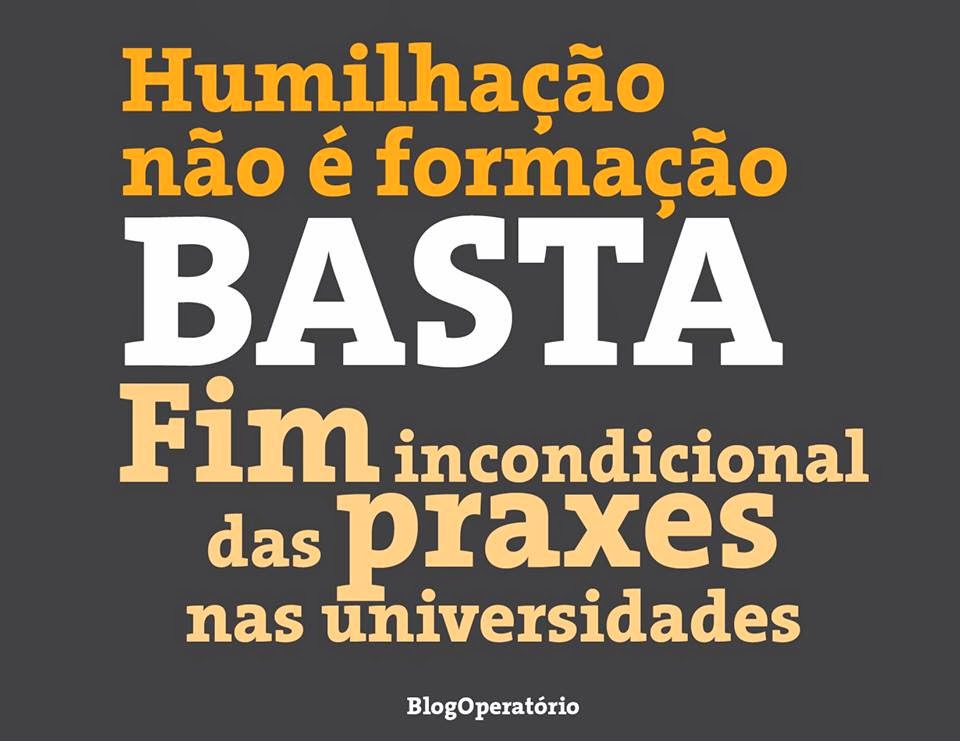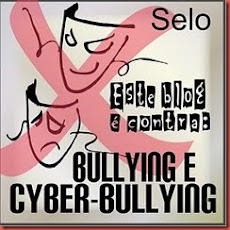Morreu Guilherme de Melo.
Mais que um escritor de grande mérito – li por assim dizer toda a sua obra – foi um ser humano excepcional, sempre amigo do seu amigo e amigo de quem precisava.
Foi a primeira pessoa a dar a cara como homossexual, aqui em Portugal, sem medo, como sem medo desafiou uma Lourenço Marques muito tradicional, onde era um jornalista de grande prestígio, ao assumir de uma forma quase mesmo provocatória, a sua orientação sexual, como relata admiravelmente no seu melhor livro “ A Sombra dos Dias”.
Aparecia com o seu namorado de então, um bombeiro, em debates televisivos quando não era fácil (ainda hoje não é), aparecer publicamente a defender os direitos dos que não escolheram uma vida sexual diferente da maioria das outras pessoas e sempre o fez com veemência sim, mas de uma forma contida, educada e aprazível.
A sua carreira jornalística no “Notícias de Lourenço Marques”, enquanto viveu em Moçambique e depois aqui em Lisboa no “Diário de Notícias” foi um exemplo para tantos que agora dão uma péssima imagem do que é ser jornalista.
Até sempre, Amigo!
Mostrar mensagens com a etiqueta vida. Mostrar todas as mensagens
Mostrar mensagens com a etiqueta vida. Mostrar todas as mensagens
domingo, 30 de junho de 2013
terça-feira, 25 de junho de 2013
O livro do Miguel
Não sei exactamente por onde começar…
São cinco e meia da manhã e acabei agora mesmo de fazer algo impensável apenas algumas horas atrás – ler pela primeira vez na vida um e-book!
Tudo aconteceu quando ontem à noite, ao dar uma vista de olhos pelos blogs que sigo, deparei com a postagem acabada de ver no blog da Margarida, e dei comigo a escrever-lhe um comentário lacónico “estou quase tentado a ler um e-book pela primeira vez na vida…”.
Estava a fechar o PC quando reparei que um filme do qual estou a fazer o download no e-Mule estava a receber muito bem e portanto não quis fechar logo o computador; mas porque já tinha fechado tudo da net, excepto o e-Mule, e para preencher o tempo fui à área de trabalho e abri o atalho do Adobe Digital Editions, onde tinha posto durante a tarde o e-book que o João Máximo me tinha enviado (como sempre) do livro do Miguel, ontem mesmo editado, mesmo sabendo ele que eu iria comprar o livro na Bubock para o ler fisicamente, como gosto e sempre faço (até tínhamos falado nisso, ao telefone).
E dei comigo a começar a ler um livro, cujo título é um bocado estranho – “Elvis sobre a baía de Guanabara e outras histórias”, de um autor que eu conheço muito bem, e que faz o favor de ser meu amigo – o Miguel. Li a primeira história – “Furadouro”, e li mais duas, tendo a terceira um título deveras interessante para mim, “Rua de S.Marçal”, porque foi nessa rua que eu vivi os meus primeiros quatro anos lisboetas.
E quando a terminei, dei por mim a pensar em tudo o que eu vivi nessa rua e adjacentes, e pensei que ainda um dia iria escrever sobre essa rua, também…
Talvez porque esses pensamentos me tivessem ocupado a mente, talvez por ser tarde, verifiquei que as fontes do download, tinham secado, e assim sendo, fechei o computador e fui dormir.
Como é meu hábito, o sono para mim é completamente irregular e assim acordei pelas 4 e 20 da madrugada e de imediato fui abrir o PC, não para ver algo dos blogs, do correio electrónico, ou repor o e-Mule a fazer downloads; fui deliberadamente continuar a leitura do livro do Miguel.
E não consegui parar!!!
Li tudo, tudinho e como Carneiro que sou aqui estou a dizer isto tudo e que se resume em poucas palavras: acabei de ler um dos mais belos livros que já li em toda a minha vida.
Não, não digo isto porque o Miguel é meu amigo, digo-o convictamente porque o livro é para mim, absolutamente maravilhoso.
Eu não sou um grande crítico literário e até tenho alguma inveja em ler belíssimas criticas na bloga a livros lidos, nomeadamente do Miguel.
Tenho dificuldade em dizer porque gosto ou não gosto, tenho alguma inércia de procurar trechos que evidenciem o valor de um livro, enfim, aprecio muito e fico com uma ideia precisa daquilo que vou lendo, mas sem o expressar, sem desenvolver as ideias com que fiquei.
Neste caso, estes contos são de tal maneira intensos por um lado, e tão maravilhosamente descritivos por outra, que fiquei rendido, total e inequivocamente rendido.
Seria maravilhoso deixar aqui uma impressão de cada um, mas não o farei e a obra vale pelo todo, porque não há contos melhores ou piores, são todos bons e devem ser lidos como um todo, uma laranja sumarenta e doce, com os seus gomos apetecíveis.
No entanto há dois contos que realço, e por razões diversas.
Um é “Chez Toi” por aquilo que ele representa para o Miguel; é um conto muito pessoal, o mais pessoal de todos eles, atrever-me-ia mesmo a dizer.
O outro é o último – “Quatro Canções”, subjectivamente o meu preferido e objectivamente um conto memorável. Além do mais, não no desfecho, mas no seu início, tem muito a ver com vivências minhas… Para finalizar faço um apelo: por favor leiam este livro!
É imprescindível para qualquer pessoa que goste de ler, para quem tiver sensibilidade, para quem goste de sentimentos e de formas diversas de os viver.
E lanço desde já aqui um desafio, ao João e ao Luís, que em boa hora “deram à luz” este livro, para num futuro próximo, numa data a combinar com o Miguel, (e depois de eu e mais algumas pessoas terem adquirido o livro físico), de fazer um jantar de apresentação formal deste livro.
Não será um jantar de blogs, de forma alguma, mas sim um encontro que tem como objectivo único reunir pessoas que tenham lido e gostado deste livro e também , é óbvio daquelas pessoas que estejam interessadas em lê-lo.
Contem comigo, e decerto com a Margarida para pormos esta iniciativa de pé.
São cinco e meia da manhã e acabei agora mesmo de fazer algo impensável apenas algumas horas atrás – ler pela primeira vez na vida um e-book!
Tudo aconteceu quando ontem à noite, ao dar uma vista de olhos pelos blogs que sigo, deparei com a postagem acabada de ver no blog da Margarida, e dei comigo a escrever-lhe um comentário lacónico “estou quase tentado a ler um e-book pela primeira vez na vida…”.
Estava a fechar o PC quando reparei que um filme do qual estou a fazer o download no e-Mule estava a receber muito bem e portanto não quis fechar logo o computador; mas porque já tinha fechado tudo da net, excepto o e-Mule, e para preencher o tempo fui à área de trabalho e abri o atalho do Adobe Digital Editions, onde tinha posto durante a tarde o e-book que o João Máximo me tinha enviado (como sempre) do livro do Miguel, ontem mesmo editado, mesmo sabendo ele que eu iria comprar o livro na Bubock para o ler fisicamente, como gosto e sempre faço (até tínhamos falado nisso, ao telefone).
E dei comigo a começar a ler um livro, cujo título é um bocado estranho – “Elvis sobre a baía de Guanabara e outras histórias”, de um autor que eu conheço muito bem, e que faz o favor de ser meu amigo – o Miguel. Li a primeira história – “Furadouro”, e li mais duas, tendo a terceira um título deveras interessante para mim, “Rua de S.Marçal”, porque foi nessa rua que eu vivi os meus primeiros quatro anos lisboetas.
E quando a terminei, dei por mim a pensar em tudo o que eu vivi nessa rua e adjacentes, e pensei que ainda um dia iria escrever sobre essa rua, também…
Talvez porque esses pensamentos me tivessem ocupado a mente, talvez por ser tarde, verifiquei que as fontes do download, tinham secado, e assim sendo, fechei o computador e fui dormir.
Como é meu hábito, o sono para mim é completamente irregular e assim acordei pelas 4 e 20 da madrugada e de imediato fui abrir o PC, não para ver algo dos blogs, do correio electrónico, ou repor o e-Mule a fazer downloads; fui deliberadamente continuar a leitura do livro do Miguel.
E não consegui parar!!!
Li tudo, tudinho e como Carneiro que sou aqui estou a dizer isto tudo e que se resume em poucas palavras: acabei de ler um dos mais belos livros que já li em toda a minha vida.
Não, não digo isto porque o Miguel é meu amigo, digo-o convictamente porque o livro é para mim, absolutamente maravilhoso.
Eu não sou um grande crítico literário e até tenho alguma inveja em ler belíssimas criticas na bloga a livros lidos, nomeadamente do Miguel.
Tenho dificuldade em dizer porque gosto ou não gosto, tenho alguma inércia de procurar trechos que evidenciem o valor de um livro, enfim, aprecio muito e fico com uma ideia precisa daquilo que vou lendo, mas sem o expressar, sem desenvolver as ideias com que fiquei.
Neste caso, estes contos são de tal maneira intensos por um lado, e tão maravilhosamente descritivos por outra, que fiquei rendido, total e inequivocamente rendido.
Seria maravilhoso deixar aqui uma impressão de cada um, mas não o farei e a obra vale pelo todo, porque não há contos melhores ou piores, são todos bons e devem ser lidos como um todo, uma laranja sumarenta e doce, com os seus gomos apetecíveis.
No entanto há dois contos que realço, e por razões diversas.
Um é “Chez Toi” por aquilo que ele representa para o Miguel; é um conto muito pessoal, o mais pessoal de todos eles, atrever-me-ia mesmo a dizer.
O outro é o último – “Quatro Canções”, subjectivamente o meu preferido e objectivamente um conto memorável. Além do mais, não no desfecho, mas no seu início, tem muito a ver com vivências minhas… Para finalizar faço um apelo: por favor leiam este livro!
É imprescindível para qualquer pessoa que goste de ler, para quem tiver sensibilidade, para quem goste de sentimentos e de formas diversas de os viver.
E lanço desde já aqui um desafio, ao João e ao Luís, que em boa hora “deram à luz” este livro, para num futuro próximo, numa data a combinar com o Miguel, (e depois de eu e mais algumas pessoas terem adquirido o livro físico), de fazer um jantar de apresentação formal deste livro.
Não será um jantar de blogs, de forma alguma, mas sim um encontro que tem como objectivo único reunir pessoas que tenham lido e gostado deste livro e também , é óbvio daquelas pessoas que estejam interessadas em lê-lo.
Contem comigo, e decerto com a Margarida para pormos esta iniciativa de pé.
quinta-feira, 23 de maio de 2013
Um vídeo e um livro
Estava-me a preparar para deixar aqui uma postagem sobre um
daqueles livrinhos da sempre interessante colecção “& etc”, que acabei de
ler, da autoria de José António Almeida, do qual já tinha lido da mesma
colecção outro livro, só de poesia – “Obsessão”, quando vi aqui,
um vídeo que me assustou e repugnou, com uma entrevista a uma tal Drª. Madalena
Fontoura, presumo que seja psicóloga e que não resisto em trazer aqui e para o
qual peço a vossa especial atenção, já que entre outras preciosidades, esta doutora
afirma que é normal as crianças terem pequenos desvios quando são pequenas e
ficam com a ideia de que são homossexuais, e depois muito mal influenciadas por
adultos pérfidos acabam por entrar nesse mundo, de onde saem fragilizados e
que têm dificuldade em sair dele…mas conseguem, claro, com a ajuda de pessoas esclarecidas como ela.
Em comparação, José António Almeida, apresenta-nos neste seu livro, de nome “O Casamento sempre foi gay e nunca triste”,
uma primeira parte com alguns pequenos textos em que procura explicar a problemática de ser ao mesmo tempo homossexual e católico, nos tempos de uma Igreja conservadora e retrógrada, aliás na linha das três grandes religiões monoteístas – cristianismo, judaísmo e islamismo.
Escolhi um texto que me parece muito correcto e que a drª. Madalena Fontoura deveria ler para tentar perceber porque é que ela é tão ignorante.
“Um homossexual tem de abrir dentro e fora de si um espaço para poder ser. Esse espaço interior de construção de si mesmo e essa projecção de um mundo de possibilidade fora de si exigem-lhe recursos extraordinários. Enquanto os heterossexuais encontram um mundo pronto-a-vestir, os homossexuais têm de construir a estrada para poder circular, essa via que lhes permita avançar na direcção do futuro. Esta ausência de perspectivação do futuro creio que é o maior problema com que se deparam os adolescentes que se descobrem com uma orientação sexual diversa da maioritária. E como podem falar livremente de homossexualidade num mundo social, familiar e religioso onde a homossexualidade era ainda em tempos muito recentes um tabu ou um assunto marcado com o ferrete da ignomínia? E, sobretudo, como falar disso no meio de desertos de intensa solidão afectiva? Como viver de escassa meia dúzia de carícias e de beijos trocados em noites que, para o mundo dos outros, nunca existiriam?”
Note-se que José António Almeida é um poeta e o resto deste pequeno livro é preenchido com alguns poemas, que e na minha opinião, estão num patamar inferior às reflexões que deixa anteriormente nos textos que escreve.
Publicada por
João Roque
à(s)
14:45
41 comentários:

Enviar a mensagem por emailDê a sua opinião!Partilhar no TwitterPartilhar no FacebookPartilhar no Pinterest
Etiquetas:
afectos,
blogosfera,
cidadania,
conceitos,
GLBT,
literatura,
partilhas,
personalidades,
poesia,
Portugal e os portugueses,
publicações,
religião,
saúde,
vida,
vídeo
sexta-feira, 17 de maio de 2013
Dia Mundial contra a homofobia
Hoje comemora-se o Dia Mundial contra a homofobia. Apesar de
discordar da vulgarização destes “dias mundiais”, a propósito de tudo e de
nada, a maior parte das vezes com fins meramente consumistas, há excepções e
esta é uma delas.
A homofobia é um preconceito contra os homossexuais que existe por este mundo fora, está generalizado e é essencialmente baseado num
desconhecimento total do que é ser-se homossexual. Ainda hoje se acredita que
quem é homossexual, o é por opção própria, e se condena quem tem essa orientação
sexual como se isso fosse uma doença, como antigamente era considerada.
Todo o ser humano tem o direito de amar quem muito bem
entender e se no chamado mundo desenvolvido, quer a nível dos Estados, quer a
nível das Organizações, se têm dado importantes passos para a igualdade, ainda
há muitos países em que tal não é consentido e até é punido.
Mas uma coisa são as leis e outra é o comportamento dos
cidadãos comuns e é neste campo que é necessário lutar, mostrando que um
homossexual é um ser normal, com os mesmos deveres e direitos que qualquer outro, apenas tem uma orientação sexual
diferente e que não escolheu.
Eu sempre procurei com a minha forma habitual de encarar a vida, e nunca recusando a minha condição de homossexual, ser um
exemplo de que se pode ter uma vida normal, sendo homossexual: quer na família,
na sociedade, nos que me são queridos, sou o que realmente sou e tenho orgulho
de ser apontado não como um indivíduo nocivo socialmente, mas sim com o
respeito que um comportamento cívico correcto merece.
Porque há muito a fazer neste campo, mostro aqui uma muito
original animação em vídeo sobre este assunto, que foca a vida de um rapaz que
tem como toda a gente os seus sonhos, os seus gostos e que é confrontado com a
realidade de ser diferente, e aparecem os medos e aparecem as críticas, mas a
vida de cada um é muito mais importante, a felicidade intima de não ceder ao
medo e à mentira só para se estar de bem com a sociedade prevalece.
É um excelente vídeo para reflectir.
domingo, 12 de maio de 2013
Bullying
Sem grandes explicações de texto, limito-me aqui a deixar o testemunho de um polémico vídeo realizado pelo jovem realizador canadiano Xavier Nolan.
É na realidade um vídeo muito violento, talvez excessivo, mas que se justifica perante a violência e o excesso em que o bullying se está a transformar em tantas escolas de todo o mundo.
O filme pretende desta forma protestar contra o bullying homofóbico no âmbito do ensino.
Vale a pena ler os dois comentários que acompanham o vídeo.
É na realidade um vídeo muito violento, talvez excessivo, mas que se justifica perante a violência e o excesso em que o bullying se está a transformar em tantas escolas de todo o mundo.
O filme pretende desta forma protestar contra o bullying homofóbico no âmbito do ensino.
Vale a pena ler os dois comentários que acompanham o vídeo.
segunda-feira, 22 de abril de 2013
E a propósito...
É uma curiosa coincidência, e afirmo-o em absoluto, que no dia de ontem, me chegaram "às mãos" duas curtas metragens, que não sendo umas obras primas, são muito interessantes e principalmente apareceram no momento certo, pois elas "documentam" de alguma forma o que foi dito no vídeo da postagem anterior, sobre o sexo anal.
Não estou a fazer aqui no blog uma dissecação sobre o assunto, apenas pus aquele vídeo por me ter parecido de certa forma "didáctico". Agora caem-me do céu estes dois vídeos que peço interpretem apenas como referi de início, uma feliz coincidência.
É curioso também uma outra questão e que não foi uma opção: ambas as curtas se passam na esfera heterossexual...
Apreciem e digam da vossa justiça.
Não estou a fazer aqui no blog uma dissecação sobre o assunto, apenas pus aquele vídeo por me ter parecido de certa forma "didáctico". Agora caem-me do céu estes dois vídeos que peço interpretem apenas como referi de início, uma feliz coincidência.
É curioso também uma outra questão e que não foi uma opção: ambas as curtas se passam na esfera heterossexual...
Apreciem e digam da vossa justiça.
sexta-feira, 19 de abril de 2013
Anal Sex
Não, não é engano, é mesmo este o título do post
E também o título do vídeo que aqui deixo.
Desengane-se contudo quem julgue vir a encontrar nesta postagem conteúdo menos próprio.
É tão só um vídeo que pretende mostrar que muitas vezes se fazem conexões indevidas e que aquilo que parece ser um "vício homossexual" é afinal apenas sexo! Exactamente como tantas outras formas de o fazer, e de dar prazer a quem o pratica,
Afinal, é para reflectir...
“John Corvino addresses those who seem to think there’s nothing more to gay sex than anal sex and explains how squeamish visceral reactions can sometimes masquerade as moral judgments.
Dr. John Corvino, also known as the “Gay Moralist,” is a writer, speaker, and philosophy professor at Wayne State University in Detroit. He is the author of What’s Wrong with Homosexuality? and the co-author (with Maggie Gallagher) of Debating Same-Sex Marriage, both from Oxford University Press
E também o título do vídeo que aqui deixo.
Desengane-se contudo quem julgue vir a encontrar nesta postagem conteúdo menos próprio.
É tão só um vídeo que pretende mostrar que muitas vezes se fazem conexões indevidas e que aquilo que parece ser um "vício homossexual" é afinal apenas sexo! Exactamente como tantas outras formas de o fazer, e de dar prazer a quem o pratica,
Afinal, é para reflectir...
“John Corvino addresses those who seem to think there’s nothing more to gay sex than anal sex and explains how squeamish visceral reactions can sometimes masquerade as moral judgments.
Dr. John Corvino, also known as the “Gay Moralist,” is a writer, speaker, and philosophy professor at Wayne State University in Detroit. He is the author of What’s Wrong with Homosexuality? and the co-author (with Maggie Gallagher) of Debating Same-Sex Marriage, both from Oxford University Press
domingo, 31 de março de 2013
Running with Scissors
Baseado nas memórias pessoais de Augusten Burroughs, “Running with Scissors” é uma história mordaz e divertida, corajosa e tocante sobre sobreviver a uma infância absolutamente estranha.
Realizado por Ryan Murphy em 2006, recebeu em Portugal o nome de “Recortes da minha vida” e penso que tenha sido exibido comercialmente.
A mãe de Augusten (Annette Bening) é uma mulher de personalidade bipolar com aspirações frustradas de vir a ser poeta, cujo casamento com o seu pai (Alec Baldwin) está à beira da ruína. Pouco depois ela é acompanhada por um excêntrico psicólogo, o Dr.Finch (Brian Cox), enquanto Augusten (Joseph Cross) é deixado a cargo da peculiar família deste, incluindo uma filha muito reservada (Gwineth Paltrow). Abandonado pelos seus paise adoptado pelos Finch, ele descobrirá grandes afinidades com a filha mais nova, Natalie (Evan Rachel Wood) e uma figura maternal na sofredora mulher de Finch, Agnes (Jill Clayburgh).Registando constantemente os acontecimentos da sua vida no seu diário, como forma de os enfrentar, Augusten dá por si a rejeitar a escola, a aprender o significado do amor com um homem mais velho (Joseph Fiennes) e a ter de tomar grandes decisões apenas com 15 anos.
Apenas vi este filme agora, após ter lido o livro, com o mesmo nome do escritor americano Augusten Burroughs
o qual muito me entusiasmou e quando soube que havia um filme baseado no livro, apressei-me a arranjá-lo e vê-lo, embora soubesse à partida que essa adaptação ficaria como ficou bastante aquém do livro. Para quem não leu o livro, o filme é à mesma bom, mas é muito difícil transpor para imagens toda a trama do livro e o que mais me “incomodou” é que o filme é sempre muito mais “dramático” do que o livro, que tem partes até bastante divertidas; também seria impossível desenvolver mais algumas das personagens, quer das faladas aqui quer de outras que nem menciono. Aceito até que o filme por si só, pareça algo confuso a quem não leu o livro. As interpretações são brilhantes num cast muito equilibrado, e que tem em Annete Bening, Brian Cox e Jill Claybourgh os melhores desempenhos, embora todos os outros estejam muito bem.
Auguste Burroughs é um autor que me está a agradar sobremaneira. Este é o segundo livro que li dele, sendo o primeiro “Efeitos Secundários”. Deveria ter lido este “Correr com tesouras” em primeiro lugar, pois teria ainda gostado mais de “Efeitos Secundários”, embora não haja uma relação directa entre ambos; mas como este livro é uma colectânea de pequenas e muito divertidas histórias, se eu conhecesse a infância e juventude de Augusten em primeira mão ainda teria gostado mais.
A seguir a “Correr com tesouras”, Burroughs escreveu “ A Seco”
em que fala do seu alcoolismo já em Nova York, ao qual se seguiu “Pensamento
mágico”. Só depois deste escreveu “Efeitos Secundários” e finalmente, apareceu
um dos seus mais celebrados livros “ À mesa com o lobo” que poderá ser
considerado uma prequela de “Correr com Tesouras”, em que ele descreve o seu
relacionamento com o seu problemático pai.
Talvez uma das razões porque me agrada tanto este autor seja
por todos os seus livros o terem a si próprio como centro das histórias, muito
no estilo que eu prefiro nos meus pequenos escritos.
quinta-feira, 21 de fevereiro de 2013
Consecuente
A vida acontece e toda a gente que passa na nossa vida leva alguma coisa de nós.
Alguns levam mesmo tudo.
Consequência de se viver permanentemente sobre o fio da navalha?
O tempo realmente cura todas as feridas? E se sim, quanto tempo demora para voltar a crescer a esperança?
"Consecuente" é uma obra de Juanma Carrillo, que resultou de uma perfomance/videoterapia ocorrida em Madrid, em Março de 2010 e teve a participação de 20 actores.
Juanma Carrillo é o autor de variadas curtas metragens, algumas delas bastante polémicas, com especial destaque para "Cannibales".
quinta-feira, 14 de fevereiro de 2013
Dizer adeus custa tanto
Full of feathers, full of feathers lay me down
And with more feathers, more feathers stand up
On my chest, I was already on my chest
This way, the way you want both
Despair, I despair for my
Within me, within me the punishment
Do not want you, I say I do not want you
And at night, I dream of you at night
If you think that one day I shall die
In desperation I have to you do not see
I extend my shawl, I extend my shawl on the floor
I extend my shawl and let me sleep
If I knew, if I knew that dying
Thou hast me, thou hast me crying
On a tear, a tear by your
What joy would kill me
segunda-feira, 28 de janeiro de 2013
Pawel Kuczynski
O artista polaco Pawel Kuczynski é um génio na arte das ilustrações críticas. As suas obras remetem-nos para factos históricos e sociais, como a fome, o trabalho infantil, a exploração, a corrupção política, a desigualdade social e a guerra.
O artista já ganhou diversos prémios internacionais.
Vejamos algumas delas
Vejamos algumas delas
sábado, 26 de janeiro de 2013
Al Berto
Al Berto, pseudónimo de Alberto Raposo Pidwell Tavares (Coimbra, 11 de Janeiro de 1948 – Lisboa, 13 de Junho de 1997), foi um poeta, pintor, editor e animador cultural português.
Nascido no seio de uma família da alta burguesia (origem inglesa por parte da avó paterna). Um ano depois foi viver para o Alentejo. O pai morre cedo, num desastre de viação. Em Sines passa toda a infância e adolescência até que a família decide enviá-lo para o estabelecimento de ensino artístico Escola António Arroio, em Lisboa.
A 14 de Abril de 1967, refractário militar, mudou-se para a Bélgica, onde estudou pintura na École Nationale Supérieure d’Architecture et des Arts Visuels (La Cambre), em Bruxelas.. Após concluir o curso, decide abandonar a pintura em 1971 e dedicar-se exclusivamente à escrita.
Regressa a Portugal a 17 de Novembro de 1974 e aí escreve o primeiro livro inteiramente na língua portuguesa, "À Procura do Vento num Jardim d'Agosto".
"O Medo", uma antologia do seu trabalho poético desde 1974 a 1986, é editado pela primeira vez em 1987. Este veio a tornar-se no trabalho mais importante da sua obra e o seu definitivo testemunho artístico, sendo adicionados em posteriores edições novos escritos do autor, mesmo após a sua morte.
As únicas excepções são os seus últimos livros de poemas “Horto de Silêncio”(1997), e “Degredo no Sul” (publicado apenas em 2007).
A 10 de Junho de 1992 foi feito Oficial da Ordem Militar de Sant'Iago da Espada.
Deixou ainda textos incompletos para uma ópera, para um livro de fotografia sobre Portugal e uma «falsa autobiografia», como o próprio autor a intitulava.
Morreu de linfoma.
Em 2009 a Companhia de Teatro O Bando estreia no Teatro Nacional Dona Maria II em Lisboa um espectáculo intitulado A Noite a partir de Lunário, Três cartas da memória das Índias, Apresentação da noite, O Medo, À procura do vento num jardim d'Agosto e Dispersos.
Além da poesia, Al Berto deixa-nos em prosa: “À Procura do Vento num Jardim d’Agosto” – “Meu Fruto de Morder” – “Todas as Horas” - “Lunário” - “O Anjo Mudo” - “Dispersos” e “Diários” (publicado no final do ano passado).
É também autor de uma peça de teatro, “Apresentação da Noite” e de um livro de Desenhos, “Projectos de 1969”.
Em 1988 foi galardoado com o Prémio Pen Club de Poesia, pela obra “O Medo”.
Acabei de ler os meus primeiros livros de Al Berto: "Horto de Incêndio" (poesia) e "Lunário" (prosa).
Quanto a "Horto de Incêndio", e eu não posso fazer comparação com os seus outros livros de poesia, pois este é o único que li, achei-o surpreendentemente belo e...triste. Escrito muito pouco tempo antes da sua morte, ele antecipa-a e prepassa por todo o livro uma atmosfera de desapego da vida e a preparação para efrentar o destino que estava próximo.
Poderia escolher variados poemas, pois o tema, com variações, está claro, está sempre presente.
Escolhi este, pois o achei sublime:
recado
Nascido no seio de uma família da alta burguesia (origem inglesa por parte da avó paterna). Um ano depois foi viver para o Alentejo. O pai morre cedo, num desastre de viação. Em Sines passa toda a infância e adolescência até que a família decide enviá-lo para o estabelecimento de ensino artístico Escola António Arroio, em Lisboa.
A 14 de Abril de 1967, refractário militar, mudou-se para a Bélgica, onde estudou pintura na École Nationale Supérieure d’Architecture et des Arts Visuels (La Cambre), em Bruxelas.. Após concluir o curso, decide abandonar a pintura em 1971 e dedicar-se exclusivamente à escrita.
Regressa a Portugal a 17 de Novembro de 1974 e aí escreve o primeiro livro inteiramente na língua portuguesa, "À Procura do Vento num Jardim d'Agosto".
"O Medo", uma antologia do seu trabalho poético desde 1974 a 1986, é editado pela primeira vez em 1987. Este veio a tornar-se no trabalho mais importante da sua obra e o seu definitivo testemunho artístico, sendo adicionados em posteriores edições novos escritos do autor, mesmo após a sua morte.
As únicas excepções são os seus últimos livros de poemas “Horto de Silêncio”(1997), e “Degredo no Sul” (publicado apenas em 2007).
A 10 de Junho de 1992 foi feito Oficial da Ordem Militar de Sant'Iago da Espada.
Deixou ainda textos incompletos para uma ópera, para um livro de fotografia sobre Portugal e uma «falsa autobiografia», como o próprio autor a intitulava.
Morreu de linfoma.
Em 2009 a Companhia de Teatro O Bando estreia no Teatro Nacional Dona Maria II em Lisboa um espectáculo intitulado A Noite a partir de Lunário, Três cartas da memória das Índias, Apresentação da noite, O Medo, À procura do vento num jardim d'Agosto e Dispersos.
Além da poesia, Al Berto deixa-nos em prosa: “À Procura do Vento num Jardim d’Agosto” – “Meu Fruto de Morder” – “Todas as Horas” - “Lunário” - “O Anjo Mudo” - “Dispersos” e “Diários” (publicado no final do ano passado).
É também autor de uma peça de teatro, “Apresentação da Noite” e de um livro de Desenhos, “Projectos de 1969”.
Em 1988 foi galardoado com o Prémio Pen Club de Poesia, pela obra “O Medo”.
Acabei de ler os meus primeiros livros de Al Berto: "Horto de Incêndio" (poesia) e "Lunário" (prosa).
Quanto a "Horto de Incêndio", e eu não posso fazer comparação com os seus outros livros de poesia, pois este é o único que li, achei-o surpreendentemente belo e...triste. Escrito muito pouco tempo antes da sua morte, ele antecipa-a e prepassa por todo o livro uma atmosfera de desapego da vida e a preparação para efrentar o destino que estava próximo.
Poderia escolher variados poemas, pois o tema, com variações, está claro, está sempre presente.
Escolhi este, pois o achei sublime:
recado
ouve-me
que o dia te seja limpo e
a cada esquina de luz possas recolher
alimento suficiente para a tua morte
vai até onde ninguém te possa falar
ou reconhecer — vai por esse campo
de crateras extintas — vai por essa porta
de água tão vasta quanto a noite
deixa a árvore das cassiopeias cobrir-te
e as loucas aveias que o ácido enferrujou
erguerem-se na vertigem do voo — deixa
que o outono traga os pássaros e as
abelhas
para pernoitarem na doçura
do teu breve coração — ouve-me
que o dia te seja limpo
e para lá da pele constrói o arco de sal
a morada eterna — o mar por onde fugirá
o etéreo visitante desta noite
não esqueças o navio carregado de lumes
de desejos em poeira — não esqueças o ouro
o marfim — os sessenta comprimidos letais
ao pequeno-almoço
Já no que respeita a "Lunário", este texto é-nos oferecido como a sua
"primeira incursão"* nos domínios da prosa.
Não se trata então de um
romance, nem de uma novela, nem de contos, mas de um «micro-romance»?
É uma
narrativa composta por sete "capítulos", unidos pela presença do
"eu" narrador, Beno.
Este dá, sucessivamente, preponderância às
outras personagens, revelando-as como principais, em cada um dos diversos encontros-capítulos:
Lúcio e Gazel, o par homossexual, em «Crepúsculo», Nemú, o rapaz sem nome em
«Lua Nova», o regresso de Alba, a mãe do seu filho Silko em «Quarto
Crescente», a morte e «ressurreição» de Kid, em «Lua Cheia», a companheira de
bar Zohía em «Quarto minguante» e, por fim, a viagem e regresso de Alaíno em
«Úmbria». «Cântico» – um encontro do «eu» consigo próprio? - corresponde
a uma síntese, a reunião final dos diversos fragmentos do sujeito (os
«heterónimos»?) que – como a imagem das fotografias o repete ao longo do texto
– cada personagem representa.
Este livro é prosa sim, mas arrisco a dizer que Al Berto apenas "sabia escrever" poesia, pois todo o livro é constituído por pequenos textos que são, na realidade, poemas.
E dou dois exemplos:
"Um dia, quando a
minha memória de homem fugitivo
alcançar a idade de um deserto, debruçar-me-ei num poço e
tentarei beber o tempo esquecido do teu rosto. Estarei lucidamente
morto, eu sei, e os meus olhos já não prenderão a adolescência,
nem as imagens que dela se soltaram. E a minha cegueira surgirá
cercada por frondosas árvores e pássaros, mas não os verei mais.
O rosto, o teu rosto, já não conseguirá atrair-me para o fundo
circular do poço.
O tempo de sedução terminou. Terás de me tocar, terás de
trocar o tacto dos olhos pelo tacto dos dedos. Apenas persistirá o
jogo, a cumplicidade, e uma ténue vibração do corpo que se
perdeu contra o meu corpo.
Por isso me ergo daqui e atravesso estas imagens coladas às
paredes, e ao atravessá-las descubro que estou perdido, e
condenado também a perder-te.
Levanto-me do fundo de mim mesmo e abandono a casa, os
bens que herdei, e vou pela memória daqueles vestígios que se me
cravaram no interior das pálpebras, mas não semeio nem recolho
nada. Apenas persigo os passos que outrora abandonei pelas
cidades onde te procurei, antes mesmo de saber que existias.
E perco-me, perco-me onde a sombra dos corpos é um
sudário de melancolia sobre o mar. Mas, ainda aqui estou, quase
vivo, atento ao movimento perene de tuas mãos sobre o meu
corpo. E sem bússola, nómada até aos ossos, sigo pela noite onde
aportei, e não reconheço a casa que me destinaram para morrer."
alcançar a idade de um deserto, debruçar-me-ei num poço e
tentarei beber o tempo esquecido do teu rosto. Estarei lucidamente
morto, eu sei, e os meus olhos já não prenderão a adolescência,
nem as imagens que dela se soltaram. E a minha cegueira surgirá
cercada por frondosas árvores e pássaros, mas não os verei mais.
O rosto, o teu rosto, já não conseguirá atrair-me para o fundo
circular do poço.
O tempo de sedução terminou. Terás de me tocar, terás de
trocar o tacto dos olhos pelo tacto dos dedos. Apenas persistirá o
jogo, a cumplicidade, e uma ténue vibração do corpo que se
perdeu contra o meu corpo.
Por isso me ergo daqui e atravesso estas imagens coladas às
paredes, e ao atravessá-las descubro que estou perdido, e
condenado também a perder-te.
Levanto-me do fundo de mim mesmo e abandono a casa, os
bens que herdei, e vou pela memória daqueles vestígios que se me
cravaram no interior das pálpebras, mas não semeio nem recolho
nada. Apenas persigo os passos que outrora abandonei pelas
cidades onde te procurei, antes mesmo de saber que existias.
E perco-me, perco-me onde a sombra dos corpos é um
sudário de melancolia sobre o mar. Mas, ainda aqui estou, quase
vivo, atento ao movimento perene de tuas mãos sobre o meu
corpo. E sem bússola, nómada até aos ossos, sigo pela noite onde
aportei, e não reconheço a casa que me destinaram para morrer."
e um outro
"No centro da cidade, um grito. Nele morrerei,
escrevendo o que a vida me deixar. E sei que cada palavra escrita é um dardo
envenenado, tem a dimensão de um túmulo, e todos os teus gestos são uma
sinalização em direcção à morte - embora seja sempre absurdo morrer. Mas hoje,
ainda longe daquele grito, sento-me na fímbria do mar. Medito no meu regresso.
Possuo para sempre tudo o que perdi. E uma abelha pousa no azul do lírio, e no
cardo que sobreviveu à geada. Penso em ti. Bebo, fumo, mantenho-me atento, absorto
- aqui sentado, junto à janela fechada. Ouço-te ciciar amo-te pela primeira
vez, e na ténue luminosidade que se recolhe ao horizonte acaba o corpo. Recolho
o mel, guardo a alegria, e digo-te baixinho: «Apaga as estrelas, vem dormir
comigo no esplendor da noite do mundo que nos foge»."
*os dois primeiros livros de prosa, anteriores a “Lunário”,
estão incluídos na compilação “O Medo”, pelo que “Lunário” é sim, a primeira
obra em prosa publicada autonomamente (1988).
terça-feira, 22 de janeiro de 2013
Um livro...uma ideia...um outro livro
Acabei de ler um livro de ensaio, género que há muito não
lia, e que devo confessar, não me é muito apelativo. Prefiro a ficção, a
poesia, as biografias e os romances históricos; mas este era um livro especial
que eu precisava de ler, e não dei o tempo por mal empregue.
Trata-se da obra “Homossexualidade – Uma História” (1995), da autoria do polifacetado autor inglês Colin Spencer. Este escritor escreveu sobre diversos temas – Ficção, Ensaio, Teatro, Livros de Culinária, e foi também desenhador.
Além deste título, escreveu no ano seguinte, um outro ensaio sobre a homossexualidade (“O Kama Sutra Gay”).
Não sendo uma obra prima e sendo um livro ambicioso, pois não é fácil falar da homossexualidade desde a Pré História até aos nossos dias, terá algumas justificadas lacunas, mas o essencial está lá, desde os tempos em que a homossexualidade (este termo só começou a ser utilizado no século XIX) era considerada normal – Grécia, certos períodos durante o Império Romano, e outras civilizações antigas, incluindo as do extremo oriente e as pré-colombianas, algumas repúblicas renascentistas, mas também e sobretudo da enorme perseguição que quase sempre, ao longo dos séculos, lhe foi movida, a começar pelos judeus, que através da religião lhe moveram uma contínua luta.
Aliás, ainda hoje, grande parte dos argumentos da religião cristã, contra a homossexualidade, se baseiam em textos bíblicos insertos no Antigo Testamento e em S.Paulo. Basta lembrar o exemplo do texto sobre Sodoma e Gomorra…
Não vou entrar em pormenores sobre todo o texto do livro, eles são muitos, apenas recordar que a homofobia tem grandes e profundas raízes no passado e chegou até nós, na actualidade, pese embora as grandes conquistas que se têm feito, neste campo, nos últimos tempos.
Aliás, uma das lacunas (natural) deste livro, é que tendo sido escrito em 1995, a época desde então até hoje (quase 30 anos) tem sido aquela em que mais se tem implementado em variados países desenvolvidos, do Ocidente, uma visão muito mais aceite desta situação.
Uma coisa é fácil de concluir: apesar de ser a homossexualidade não uma opção, mas uma questão genética, e de ainda hoje haver países que a consideram um crime que leva até à pena de morte, aquilo porque passaram os nossos antepassados pelo facto de serem homossexuais foi algo de terrível e com consequências absolutamente abomináveis, como por exemplo no tempo da Inquisição. No nosso país, no mundo ocidental de uma forma genérica, os dias que correm, são, na defesa dos direitos homossexuais e no reconhecimento da sua existência um quase paraíso por comparação com esses tempos.
Aproveito esta postagem para chamar a atenção para o aparecimento no nosso país de uma editora bastante original, ideia do João Máximo e do Luís, cujo nome é Index ebooks, que aproveitando a vaga das novas tecnologias com o aparecimento e crescimento dos ebooks, têm editado alguns livros de temática LGBT, incluindo algumas traduções de obras importantes, sem edição normal em Portugal; é um trabalho notável que pode ir sendo seguida no blog do João e do Luís.Não sendo uma obra prima e sendo um livro ambicioso, pois não é fácil falar da homossexualidade desde a Pré História até aos nossos dias, terá algumas justificadas lacunas, mas o essencial está lá, desde os tempos em que a homossexualidade (este termo só começou a ser utilizado no século XIX) era considerada normal – Grécia, certos períodos durante o Império Romano, e outras civilizações antigas, incluindo as do extremo oriente e as pré-colombianas, algumas repúblicas renascentistas, mas também e sobretudo da enorme perseguição que quase sempre, ao longo dos séculos, lhe foi movida, a começar pelos judeus, que através da religião lhe moveram uma contínua luta.
Aliás, ainda hoje, grande parte dos argumentos da religião cristã, contra a homossexualidade, se baseiam em textos bíblicos insertos no Antigo Testamento e em S.Paulo. Basta lembrar o exemplo do texto sobre Sodoma e Gomorra…
Não vou entrar em pormenores sobre todo o texto do livro, eles são muitos, apenas recordar que a homofobia tem grandes e profundas raízes no passado e chegou até nós, na actualidade, pese embora as grandes conquistas que se têm feito, neste campo, nos últimos tempos.
Aliás, uma das lacunas (natural) deste livro, é que tendo sido escrito em 1995, a época desde então até hoje (quase 30 anos) tem sido aquela em que mais se tem implementado em variados países desenvolvidos, do Ocidente, uma visão muito mais aceite desta situação.
Uma coisa é fácil de concluir: apesar de ser a homossexualidade não uma opção, mas uma questão genética, e de ainda hoje haver países que a consideram um crime que leva até à pena de morte, aquilo porque passaram os nossos antepassados pelo facto de serem homossexuais foi algo de terrível e com consequências absolutamente abomináveis, como por exemplo no tempo da Inquisição. No nosso país, no mundo ocidental de uma forma genérica, os dias que correm, são, na defesa dos direitos homossexuais e no reconhecimento da sua existência um quase paraíso por comparação com esses tempos.
Por outro lado, tiveram uma ideia muito interessante e que está apenas a dar os primeiros passos e que será a compilação de um Dicionário de Literatura Gay Portuguesa.
Para tal efeito, foi por eles criado um grupo no site goodreads, (que eu aconselho vivamente a quem gosta de ler) e que se chama precisamente “Literatura Gay Portuguesa”, onde os aderentes podem ir acrescentando livros que conheçam e caibam no âmbito do grupo. Por ora, apenas estão inscritos neste grupo, além do João e do Luís, a Margarida, o Miguel e eu próprio. Seria muito interessante que mais pessoas aderissem e contribuíssem com o acrescentar de obras, o debate de críticas e ideias, pois tudo isso é importante para o aparecimento futuro desse Dicionário.
sábado, 5 de janeiro de 2013
Nunes
O Sad Eyes, além das três edições dos contos Pixel, cuja
última edição subordinada aos temas Natal e LGBT, está agora em fase de
votação, lançou um outro desafio, a que deu o nome “The Book of Distance” e que
consiste na escrita de pequenas histórias, que não têm ligação entre si e que
de alguma forma sugiram distância. Essas histórias serão nove, o número de
letras da palavra DISTÂNCIA, e cada uma delas terá um título começado com a
letra correspondente. O próprio Sad escolheu, e bem o Arrakis para o primeiro
conto, que corresponde à letra D, e depois cada um, escolhe o autor da história
seguinte, evidentemente com um título começado pela letra respectiva,
respeitando a sequência. As histórias são manuscritas num caderno pequenino,
que vai andando de mão em mão, até ser devolvido pelo autor da última história
ao Sad.
Sucede que após a quarta história, escrita pelo K, este
muito gentilmente convidou-me para escrever a história seguinte; mas eu estava
naquele período de pausa do blog, e com pena, declinei o mesmo. Mas parece eu estava
mesmo fadado que teria que escrever uma das histórias, e o Miguel, conseguiu “dar-me
a volta” e aqui estou com a história correspondente ao N.
É uma história real, como quase sempre são as minhas
histórias, passou-se comigo e as outras duas personagens são reais (apenas com
os nomes alterados) e está baseada num
dos episódios daquela minha saga “A guerra cá do João” que publiquei já há
bastante tempo. A noção de distância, nesta história não é apenas baseada em
ter como cenário um local distante, mas principalmente uma distância
(distanciamento) que tem que haver na hierarquização militar.
Só para terminar e antes de aqui colocar a história, fico
muito satisfeito de poder comunicar que o próximo autor, da história começada
por C, será o Paulo (Zoninho) do blog “Felizes Juntos”, que estou certo dará uma
excelente colaboração a esta ideia que o Sad em boa hora teve.
Nunes era um jovem furriel operacional da companhia que eu comandava, no Niassa moçambicano, para onde tinha sido enviado. Lá longe, e numa rendição individual, fui encontrar 200 homens que nunca tinha visto antes e que a partir daí, iria comandar; eram quase todos de raça negra, da chamada “incorporação local”, ou seja, oriundos da própria colónia, incluindo mesmo alguns brancos, alferes, furriéis e cabos. Do continente não éramos mais que 20, todos brancos, dois alferes, os sargentos, alguns (poucos) furriéis e cabos e até um que outro soldado com especialidades menos comuns, como os que tratavam dos barcos pneumáticos nos quais fazíamos a travessia do Lugenda para a outra margem, onde decorriam quase todas as operações.
Eu sentia-me muito só, pois embora por feitio fosse muito comunicativo, tinha como obrigação não estabelecer amizades ou contactos privilegiados com quer que fosse, pois na vida militar e numas condições de vida, assim precárias, isolados do mundo, sem população num raio de 100 kms, o comandante tinha que ser o garante de uma hierarquização, mais necessária do que desejada; sim, havia convívio, mas não ultrapassava os limites que os factos impunham.
Por outro lado, a minha condição de homossexual estava ainda numa fase que não era plena e total, e tinha perfeita consciência que não seria ali que iria ter qualquer tipo de relação sexual, e nem era preciso um grande sacrifício, pois estava perfeitamente capacitado disso. Aliás, as idas com alguma regularidade a Vila Cabral, ou em menor escala, a Nampula permitiam-me, nessas alturas “carregar baterias”. E também nunca olhei nenhum homem sob o meu comando, segundo um ponto de vista sexual; havia dois ou três bastante dentro do meu padrão de gosto pessoal, mas nada mais que isso.
Sabia, isso sim, que havia homossexuais na companhia, pois que alguns, não muitos, tinham aquele “não sei o quê”, que os homossexuais sentem em relação aos restantes homens, mas nunca se tinha visto ou falado em ninguém a ser conhecido por comportamentos homossexuais.
Até que um dia, (há sempre um dia), estava eu no “parrot”(*)que servia de refeitório a oficiais e sargentos e vi um livro, cujas capas estavam forradas, em cima de uma mesa e peguei nele; era um livro que já tinha lido, “As Amizades Particulares” do Roger Peyrefitte, bem conhecido na então muito incipiente literatura homossexual. E curiosamente, algumas das partes mais “interessantes” estavam sublinhadas a lápis.
Estava a folhear interessadamente o livro, vendo esses sublinhados, quando entrou o furriel Nunes, um bocado apressado e parou aterrado ao ver-me com o livro na mão; vi logo de imediato que o livro era dele e para o pôr à vontade disse-lhe que conhecia o livro , que o achava interessante, principalmente as partes sublinhadas; não poderia ter sido mais directo, mas tudo sucedeu sem uma intenção real de interesse pelo rapaz, que até era bem apessoado, e sim de o sossegar pois ele estava quase em pânico. O facto é que realmente lhe disse implicitamente que era homossexual e notei o alívio com que ficou.
Uns dias mais tarde, o Nunes que era “sabidote”, de uma forma respeitosa, perguntou-me se eu era realmente homossexual e eu disse-lhe que sim, não menti. Abri uma torneira, pois o Nunes logo me foi dizendo que já havia estado com a,b,c,d, eu sei lá o abecedário inteiro…e só nessa altura me capacitei do “perigo” que corria de ficar a fazer parte do abecedário, o que não era aflitivo, pois pelos vistos, quase todos os elementos brancos da companhia já tinham tido experiências homossexuais, mas sendo eu o comandante, não estava nada interessado em transformar a minha companhia numa companhia de “homens com gostos diferenciados” para não usar termos grosseiros…
Mas o Nunes e por iniciativa própria, assegurou-me que nunca me exporia e que tudo o que já se tinha passado entre ele e outros, tinha sido feito com o necessário recato.
O que é um facto é que, visto o Nunes estar a par da minha situação, e porque sempre fui muito oportuno e rápido na forma de agir, em tais circunstâncias, sugeri ao rapaz que nas noites em que estivesse escalado para fazer rondas às sentinelas, passasse pela minha cabana – eu era o único a ter o privilégio de dormir sozinho, sem ser em camaratas – para “conversarmos um pouco”… Convite aceite, e assim passei a ter periodicamente direito a um muito agradável convívio sexual e que ninguém mais soube.
Tive a certeza disso, quando já com a guerra acabada, vim a conhecer melhor, aqui em Lisboa o Martins, alferes lá na companhia e que teve há tempos um bar e depois um restaurante no Bairro Alto e com quem muito conversei aqui sobre esses tempos que lá passámos. Ao falar casualmente no Nunes, ele descaiu-se e disse-me que tinha tido relações com ele lá, coisa que eu nunca soube, e quando eu lhe confessei que o mesmo se passara comigo, ele quase não quis acreditar…
Falámos então de alguns homens que ele, Martins, tinha conhecido sexualmente na companhia e daí concluí mesmo, e depois de ter visto o que vi em Vila Cabral, Nampula e Beira, de que uma grande maioria dos homens que fizeram a guerra colonial, tiveram lá experiências homossexuais.
O Martins e eu tornámos-mos bons amigos, mas nunca houve sexo entre nós e uma bela noite estávamos os dois num bar gay daqui de Lisboa, a beber um copo, quando apareceu…o Nunes! Que festança fizemos, o que rimos e o que falámos, os três até de manhã. O Nunes morava no Norte, tinha vindo a Lisboa de fim de semana e perdi-lhe o rasto. Até mesmo o Martins, deixou o restaurante do Bairro Alto e nunca mais o vi… Distâncias…
(*)Parrot
sexta-feira, 21 de dezembro de 2012
Words
Três frases, palavras encadeadas por alguém que lhes vê sentido:
1...“A vida não é esperar que a tempestade acabe; mas sim aprender a dançar à chuva.”
Autor desconhecido
2...“Ninguém que mereça ser possuído o será alguma vez por inteiro.”
Sara Teasdale
3...“Amor é uma palavra abrangente e muito cómoda que utilizamos para disfarçar as razões complicadas que nos levam a querer o apoio de outra pessoa.”
Frank Ronan
A primeira é de difícil execução. Não sei quem é o autor, mas decerto será alguém que vê a vida de uma forma prática e optimista. Mas dançar à chuva não tem aqui o significado lúdico da dança do Gene Kelly.
A segunda, da autoria de uma poetisa americana que viveu nos finais do século XIX, princípios do século XX tem algo de presunção nas suas palavras. (Não ver a frase num contexto diferente, como se fosse daquela interessante série do Sad Eyes - frases que poderiam ser gays...)
Finalmente a mais polémica, mas que merece uma profunda reflexão. Está no primeiro livro de Frank Ronan, do qual conheço toda a obra e que curiosamente, sendo ele gay e todos os restantes livros foquem de uma forma mais ou menos acentuada as questões ou as personagens homossexuais, neste não tem uma palavra sobre esse tema. Foi curiosamente o livro dele de que mais gostei e chama-se "Os Homens que Amaram Evelyn Cotton".
Gostaria de ter aqui opiniões sobre estas frases, principalmente sobre a última. Eu concordo apenas parcialmente com ela.
1...“A vida não é esperar que a tempestade acabe; mas sim aprender a dançar à chuva.”
Autor desconhecido
2...“Ninguém que mereça ser possuído o será alguma vez por inteiro.”
Sara Teasdale
3...“Amor é uma palavra abrangente e muito cómoda que utilizamos para disfarçar as razões complicadas que nos levam a querer o apoio de outra pessoa.”
Frank Ronan
A primeira é de difícil execução. Não sei quem é o autor, mas decerto será alguém que vê a vida de uma forma prática e optimista. Mas dançar à chuva não tem aqui o significado lúdico da dança do Gene Kelly.
A segunda, da autoria de uma poetisa americana que viveu nos finais do século XIX, princípios do século XX tem algo de presunção nas suas palavras. (Não ver a frase num contexto diferente, como se fosse daquela interessante série do Sad Eyes - frases que poderiam ser gays...)
Finalmente a mais polémica, mas que merece uma profunda reflexão. Está no primeiro livro de Frank Ronan, do qual conheço toda a obra e que curiosamente, sendo ele gay e todos os restantes livros foquem de uma forma mais ou menos acentuada as questões ou as personagens homossexuais, neste não tem uma palavra sobre esse tema. Foi curiosamente o livro dele de que mais gostei e chama-se "Os Homens que Amaram Evelyn Cotton".
Gostaria de ter aqui opiniões sobre estas frases, principalmente sobre a última. Eu concordo apenas parcialmente com ela.
quarta-feira, 5 de dezembro de 2012
"OS SEXALECENTES"
"OS SEXALECENTES"
Se estivermos atentos, podemos notar que está surgindo uma nova faixa social, a das pessoas que estão em torno dos sessenta/setenta anos de idade,
Os Sexalescentes , é a geração que rejeita a palavra "sexagenário", porque simplesmente não está nos seus planos deixar-se envelhecer.
Trata-se de uma verdadeira novidade demográfica, parecida com a que em meados do século XX, se deu com a consciência da idade da adolescência, que deu identidade a uma massa jovens oprimidos em corpos desenvolvidos, que até então não sabiam onde meter-se nem como vestir-se.
Este novo grupo humano, que hoje ronda os sessenta/setenta, teve uma vida razoavelmente satisfatória. São homens e mulheres independentes, que trabalham há muitos anos e que conseguiram mudar o significado tétrico que tantos autores deram, durante décadas, ao conceito de trabalho. Que procuraram e encontraram há muito a actividade de que mais gostavam e que com ela ganharam a vida.
Talvez seja por isso que se sentem realizados .......... Alguns nem sonham em aposentar-se.
E os que já se aposentaram gozam plenamente cada dia sem medo do ócio ou solidão. Desfrutam a situação, porque depois de anos de trabalho, criação dos filhos, preocupações, fracassos e sucessos, sabe bem olhar para o mar sem pensar em mais nada, ou seguir o voo de um pássaro da janela de um 3.º andar, ver o por do sol ..........
Neste universo de pessoas saudáveis, curiosas e activas, a mulher tem um papel destacado.
Traz décadas de experiência de fazer a sua vontade, quando as suas mães só podiam obedecer, e de ocupar lugares na sociedade que as suas mães nem tinham sonhado ocupar. Esta mulher Sexalescente sobreviveu à bebedeira de poder que lhe deu o feminismo dos anos 60. Naqueles momentos da sua juventude em que eram tantas as mudanças, parou e reflectiu sobre o que na realidade queria. Algumas optaram por viver sozinhas, outras fizeram carreiras que sempre tinham sido exclusivamente para homens, outras escolheram ter filhos, outras não, foram jornalistas, atletas, juízas, médicas, diplomatas .... Mas cada uma fez o que quis. Reconheçamos que não foi fácil e, no entanto, continuam a fazê-lo todos os dias. Algumas coisas podem dar-se por adquiridas. Por exemplo, não são pessoas que estejam paradas no tempo: a geração dos "sessenta/setenta", homens e mulheres, lida com o computador como se o tivesse feito toda a vida.
Escrevem aos filhos que estão longe e até se esquecem do velho telefone para contactar os amigos, mandam e-mails com as suas notícias, ideias e vivências.
De uma maneira geral estão satisfeitos com o seu estado civil e quando não estão, não se conformam e procuram mudá-lo.
Raramente se desfazem em prantos sentimentais.
Ao contrário dos jovens, os Sexalescentes conhecem e pesam todos os riscos. Ninguém se põe a chorar quando perde: apenas reflecte, toma nota e parte para outra .........
Os homens não invejam a aparência das jovens estrelas do desporto ou dos que ostentam um fato Armani, nem as mulheres sonham em ter as formas perfeitas de um modelo. Em vez disso, conhecem a importância de um olhar cúmplice, de uma frase inteligente ou de um sorriso iluminado pela experiência.
Hoje, as pessoas na década dos sessenta/setenta, como tem sido seu costume ao longo da sua vida, estão estreando uma idade que não tem nome. Antes seriam velhos e agora já não o são. Hoje estão de boa saúde, física e mental, recordam a juventude mas sem nostalgias parvas, porque a juventude ela própria também está cheia de nostalgias e de problemas. Celebram o sol em cada manhã e sorriem para si próprios ..........Talvez por alguma secreta razão que só sabem e saberão os que chegarem aos 60/70 no século XXI..!!
Mirian Goldenberg
(recebido hoje por mail, enviado por um sexalescente, apenas um ano mais velho que eu...)
Se estivermos atentos, podemos notar que está surgindo uma nova faixa social, a das pessoas que estão em torno dos sessenta/setenta anos de idade,
Os Sexalescentes , é a geração que rejeita a palavra "sexagenário", porque simplesmente não está nos seus planos deixar-se envelhecer.
Trata-se de uma verdadeira novidade demográfica, parecida com a que em meados do século XX, se deu com a consciência da idade da adolescência, que deu identidade a uma massa jovens oprimidos em corpos desenvolvidos, que até então não sabiam onde meter-se nem como vestir-se.
Este novo grupo humano, que hoje ronda os sessenta/setenta, teve uma vida razoavelmente satisfatória. São homens e mulheres independentes, que trabalham há muitos anos e que conseguiram mudar o significado tétrico que tantos autores deram, durante décadas, ao conceito de trabalho. Que procuraram e encontraram há muito a actividade de que mais gostavam e que com ela ganharam a vida.
Talvez seja por isso que se sentem realizados .......... Alguns nem sonham em aposentar-se.
E os que já se aposentaram gozam plenamente cada dia sem medo do ócio ou solidão. Desfrutam a situação, porque depois de anos de trabalho, criação dos filhos, preocupações, fracassos e sucessos, sabe bem olhar para o mar sem pensar em mais nada, ou seguir o voo de um pássaro da janela de um 3.º andar, ver o por do sol ..........
Neste universo de pessoas saudáveis, curiosas e activas, a mulher tem um papel destacado.
Traz décadas de experiência de fazer a sua vontade, quando as suas mães só podiam obedecer, e de ocupar lugares na sociedade que as suas mães nem tinham sonhado ocupar. Esta mulher Sexalescente sobreviveu à bebedeira de poder que lhe deu o feminismo dos anos 60. Naqueles momentos da sua juventude em que eram tantas as mudanças, parou e reflectiu sobre o que na realidade queria. Algumas optaram por viver sozinhas, outras fizeram carreiras que sempre tinham sido exclusivamente para homens, outras escolheram ter filhos, outras não, foram jornalistas, atletas, juízas, médicas, diplomatas .... Mas cada uma fez o que quis. Reconheçamos que não foi fácil e, no entanto, continuam a fazê-lo todos os dias. Algumas coisas podem dar-se por adquiridas. Por exemplo, não são pessoas que estejam paradas no tempo: a geração dos "sessenta/setenta", homens e mulheres, lida com o computador como se o tivesse feito toda a vida.
Escrevem aos filhos que estão longe e até se esquecem do velho telefone para contactar os amigos, mandam e-mails com as suas notícias, ideias e vivências.
De uma maneira geral estão satisfeitos com o seu estado civil e quando não estão, não se conformam e procuram mudá-lo.
Raramente se desfazem em prantos sentimentais.
Ao contrário dos jovens, os Sexalescentes conhecem e pesam todos os riscos. Ninguém se põe a chorar quando perde: apenas reflecte, toma nota e parte para outra .........
Os homens não invejam a aparência das jovens estrelas do desporto ou dos que ostentam um fato Armani, nem as mulheres sonham em ter as formas perfeitas de um modelo. Em vez disso, conhecem a importância de um olhar cúmplice, de uma frase inteligente ou de um sorriso iluminado pela experiência.
Hoje, as pessoas na década dos sessenta/setenta, como tem sido seu costume ao longo da sua vida, estão estreando uma idade que não tem nome. Antes seriam velhos e agora já não o são. Hoje estão de boa saúde, física e mental, recordam a juventude mas sem nostalgias parvas, porque a juventude ela própria também está cheia de nostalgias e de problemas. Celebram o sol em cada manhã e sorriem para si próprios ..........Talvez por alguma secreta razão que só sabem e saberão os que chegarem aos 60/70 no século XXI..!!
Mirian Goldenberg
(recebido hoje por mail, enviado por um sexalescente, apenas um ano mais velho que eu...)
quarta-feira, 14 de novembro de 2012
"The Man I Love"
Pode dizer-se que há realmente coincidências.
Nem 48 horas tinham passado após a minha última postagem, em que focava a problemática do mundo homossexual, hoje em dia e a necessidade de os homossexuais contribuírem, com a sua visibilidade, para que a sociedade compreenda que não somos diferentes, quando surge no jornal “O Público” uma entrevista da jornalista Anabela Mota Ribeira ao casal Alexandre Quintanilha, biólogo e Richard Zimler, escritor, a residirem no Porto desde há anos e mantendo um relacionamento afectivo há mais de 30 anos, tendo casado há pouco mais de dois anos.
É uma entrevista longa, mas que vale a pena ler na integra, pela riqueza dos seus depoimentos, pela importância como ambos viram e vêem o mundo homossexual, o seu amor, a forma como se assumiram, enfim duas vidas que se encontraram e que agora constituem uma só vida, mas respeitando cada um o outro. Aqui encontramos muita coisa que eu havia aflorado no meu texto anterior, pelo que aqui o publico como complemento imprescindível do mesmo.
E além do mais, o amor destes dois homens é lindo!!!
Nem 48 horas tinham passado após a minha última postagem, em que focava a problemática do mundo homossexual, hoje em dia e a necessidade de os homossexuais contribuírem, com a sua visibilidade, para que a sociedade compreenda que não somos diferentes, quando surge no jornal “O Público” uma entrevista da jornalista Anabela Mota Ribeira ao casal Alexandre Quintanilha, biólogo e Richard Zimler, escritor, a residirem no Porto desde há anos e mantendo um relacionamento afectivo há mais de 30 anos, tendo casado há pouco mais de dois anos.
É uma entrevista longa, mas que vale a pena ler na integra, pela riqueza dos seus depoimentos, pela importância como ambos viram e vêem o mundo homossexual, o seu amor, a forma como se assumiram, enfim duas vidas que se encontraram e que agora constituem uma só vida, mas respeitando cada um o outro. Aqui encontramos muita coisa que eu havia aflorado no meu texto anterior, pelo que aqui o publico como complemento imprescindível do mesmo.
E além do mais, o amor destes dois homens é lindo!!!
"Conheceram-se em São Francisco
em 1978, mudaram-se para o Porto em 1990. Casaram-se há dois anos e um mês.
Alexandre Quintanilha tem 68 anos, é cientista. Richard Zimler tem 56 anos, é
escritor. Concedem uma entrevista única, a dois, em casa. Estão descalços.
Estão tão confortavelmente como se pode estar em casa, mesmo que esteja uma
intrusa entre eles. O propósito era falar da dinâmica da relação, dos seus
percursos individuais, de como foram tocados, e alterados, com a chegada do
outro, pela vida do outro. O propósito não era contar uma bela história de
amor, mas era evidente que aquela era uma bela história de amor. Uma daquelas
histórias por que torcem as professoras, as hospedeiras, o notário, as pessoas
que formam uma espécie de conluio (a expressão é de Alexandre) e que fazem
perguntas e mandam beijinhos. Por que é que é tão raro uma relação ser tão
feliz ao cabo de 34 anos de vida comum? É por isso que as pessoas torcem por
eles? E importa, para o caso, que seja uma relação entre pessoas do mesmo
sexo?
Para eles, fazia sentido expor a relação que vivem e correr o risco de apanhar com rótulos, estereótipos, gavetas. Não se pergunta se são a favor da adopção de crianças por casais homossexuais (ainda que a resposta esteja implícita na entrevista) nem se pergunta por que é que eles acham que são homossexuais (perguntar-se-ia a um heterossexual por que é que ele acha que é heterossexual?). Mas pergunta-se pelo modo como lidaram com a sua homossexualidade, familiar e socialmente.
Eles souberam, desde o princípio, que o outro era o tal. Não se enganaram. Sorte? Sorte e trabalho, respondem os dois.
Gostava de começar, não pelo princípio da vossa vida comum, mas por um certo princípio, que foi a vinda para Portugal. Por que é que decidiram começar uma nova vida?
Alexandre Quintanilha - Cheguei à [São Francisco] Bay Area no princípio dos anos 70, o Richard chegou em 1977. Conhecemo-nos no ano seguinte e passámos a viver em Berkeley. No fim dos anos 80 aconteceram dois episódios que alteraram a nossa forma de estar. A epidemia do HIV começou a aparecer. Houve dois ou três sítios na América que foram muito afectados. A área da baía, e em particular São Francisco, foi uma delas.
San Francisco tinha o rótulo de ser uma cidade onde a comunidade gay se sentia bem. Algumas das lutas pelos direitos dos homossexuais, encabeçadas pelo activista Harvey Milk, aconteceram aí.
A.Q. - E não só. Era um sítio onde tinha havido movimentos hippie, onde toda a gente fumava, se injectava. A partir de 85, 86, era quase impossível, tanto na universidade como fora dela, ir almoçar com amigos e o tema da conversa não ser o HIV.
Richard Zimler - Como a crise, agora, em Portugal - ninguém fala de outra coisa.
O seu irmão veio a falecer de sida. Nessa altura já se tinha declarado a doença? Era encarada como uma sentença de morte.
R.Z. - Sim. Antes de 83, 84, ele suspeitava de que tinha qualquer coisa. Depois confirmaram que era HIV.
A.Q. - A área da baía era um lugar de liberdade, de exploração. Tinha havido movimentos contra a guerra do Vietname, muitos feminismos começaram lá. As lutas em Oakland, pelos direitos dos negros, tinham sido importantes. Era uma área dinâmica de muitos pontos de vista. E a partir dos anos 80 havia a sensação de que não se podia escapar deste assunto. Ainda bem que nos conhecemos em 78; não tenho a certeza, se nos tivéssemos conhecido mais tarde, se um de nós não teria tido sida.
Conheceram-se num período em que toda a experimentação era possível. Sem fantasmas. Isso marcou a vossa relação?
R.Z. - Eu só tinha 22 anos quando conheci o Alexandre. Mudei-me para São Francisco quando tinha 21 anos, e estava a começar a vida sexual, a vida espiritual, a vida profissional. Chegar à Bay Area era o começo de uma longa viagem. Ele tinha 33 anos (na altura pensávamos que era já muito avançado na idade...). Para os dois, era o começo de uma aventura. E de repente chegou a sida. Eu trabalhava na Victoria"s Secret, uma firma de lingerie feminina; era secretário. Trabalhavam lá umas 60 pessoas e diria que uns dez ou 12 eram gay. Harvey Milk disse que, quando as pessoas começassem a sair do armário, todos íamos perceber que o carteiro era gay, que a empregada de mesa no nosso restaurante favorito é lésbica, que o professor de Matemática que o nosso menino adora é homossexual. São Francisco era o primeiro sítio no mundo, pelo menos nos Estados Unidos, em que isso já estava a acontecer.
A orientação sexual não era um assunto?
A.Q. - Deixou de ser assunto.
R.Z. - Na minha empresa, todos os homossexuais eram gente assumida, não havia qualquer problema. Foi por isso que foi de Nova Iorque para São Francisco? Não é um americano do Middle West, dos estados conservadores.
R.Z. - Mesmo em Nova Iorque, mesmo dentro de uma família de gente formada... O meu pai tinha uma licenciatura em advocacia, a minha mãe era bioquímica, mas os preconceitos contra os homossexuais eram violentos. Quando suspeitei de que era homossexual, entrei em pânico. Sabia que contar aos meus pais, aos meus amigos, ia provocar problemas. Os meus pais não eram racistas, a minha mãe era feminista; o último preconceito a perder era a homossexualidade.
A.Q. - Muito diferente da minha família.
Como é que foi consigo?
A.Q. - Os meus pais não eram nada preconceituosos. Não disse que era gay, não existia essa expressão quando tinha 16 anos. Disse aos meu pais que estava apaixonado por um homem e que não percebia. Não havia role models [exemplos] para isso. O meu pai disse-me que não era uma coisa que ele percebesse, mas que se isso me preocupava podia arranjar uma pessoa com quem eu pudesse falar. E fui falar com um psiquiatra, duas vezes.
Só para situar: isso passa-se em Moçambique, há 50 anos, e o seu pai é um prestigiado biólogo.
A.Q. - Na primeira vez em que estive com esse homem extraordinário, dei-lhe a ler um diário meu. Estava convencido de que era uma obra-prima da literatura [riso]. Na sessão seguinte, entregou-mo e disse: "Você está apaixonado. Isso é uma sensação maravilhosa. Devia estar satisfeito por estar apaixonado." Eu não tinha a certeza se era mesmo gay ou se era bi. A minha mãe, a única coisa que me disse foi: "Quero é que sejas feliz."
Onde é que radica a abertura que manifestaram?
A.Q. - Da minha mãe é muito claro. Era alemã e cresceu em Berlim nos anos 20 (era o sítio mais civilizado do mundo). Teve relações muito fortes tanto com homens como com mulheres. O meu pai, apesar de nunca ter tido esse tipo de sensação, não achou que fosse uma coisa preocupante. Isto libertou-me imenso. Mesmo na África do Sul (para onde fui fazer a faculdade), já não tinha necessidade de fingir que não era aquilo que era. Quando me aproximava das pessoas emocionalmente, quer fossem mulheres, quer fossem homens, era de uma forma aberta. E num sítio racista, ainda por cima.
Olhando retrospectivamente, acha que se apaixonava de facto por homens e por mulheres ou estava a tentar perceber se era mesmo homossexual?
A.Q. - Se calhar, as duas coisas. Com 20 anos, sabemos muito pouco. Quando temos uma grande atracção por uma pessoa, quando a atracção e a admiração, e a paixão, se tornam muito intensas, duvido de que não haja uma parte física, seja qual for a pessoa. Esta coisa de nos definirmos como hetero ou homo... não me defino dessa maneira. Defino-me como uma pessoa que gosta de literatura, que gosta de música, de ciência. Deixou de ser um label [rótulo].
O Richard acompanhou os anos finais da vida do irmão, que foram duríssimos. O irmão tinha uma relação muito má com os pais. O Richard tinha de ir a Nova Iorque quase todos os meses para falar com os médicos, com os padres (o irmão converteu-se ao catolicismo), com os amigos. Quando voltava, voltava emocionalmente exausto. Eu só tive essa sensação, menos forte mas muito poderosa, porque dois dos investigadores que tinha contratado para o Centro de Estudos Ambientais em Berkeley, na mesma semana, uma rapariga australiana e um jovem de Boston, vieram ao meu gabinete dizer-me que estavam infectados com HIV. Cheguei a casa e desatei a chorar. Como ele [o Richard] fazia quando vinha de Nova Iorque. Começámos a pensar que precisávamos de ir para um sítio onde aquele deixasse de ser o tópico de todas as conversas.
Aí, já não era o medo de que a doença vos tocasse directamente.
A.Q. - Não, de maneira nenhuma.
R.Z. - Eu estava preocupado com isso. Não era claro quantos anos, ou meses, a infecção levava a mostrar-se. Estava muito perturbado. Ver um irmão com quem nos identificamos - porque crescemos no mesmo quarto - morrer, afectou-me muito psicologicamente. Comecei a lavar as mãos 100 vezes por dia. O meu irmão, um jovem de 34 anos, estava a morrer e não queria morrer. Os meus pais eram loucos. Durante esse período, e depois de ele falecer, comecei a pensar que ia morrer jovem, que não ia ter a possibilidade de escrever livros, de manter a minha relação com o Alexandre. E se eu infectasse o Alexandre? Ou vice-versa. Infectar uma pessoa com quem se tem uma união deve provocar uma sensação de culpa abominável.
O Alexandre contou um pouco da descoberta e assunção da sua homossexualidade. O Richard aflorou o assunto. Pode contar mais detalhadamente como viveu esse período?
R.Z. - Há homossexuais que sabem muito cedo; eu não sabia. Há certas características que as pessoas, nos anos 60, 70, associaram a homossexuais. Por exemplo, que não são grandes desportistas. Hoje em dia sabemos que isso não tem qualquer validade, que há homossexuais muito machões e outros muito efeminados. Eu pensava: "Não tenho estas características dos homossexuais. Gosto de desporto, gosto dos Beatles, gosto dos Rolling Stones. Como é que posso ser homossexual?"
A.Q. - Gostas de desporto e és muito bom em desporto. Isso não ligava com a ideia do homossexual efeminado.
Nessa altura trabalhava-se com gavetas, as pessoas encaixavam aqui ou acolá.
A.Q. - Exactamente. Deixar de estar nos sítios onde há essas gavetas é fundamental.
R.Z. - Pensava: "Não sou normal. As minhas fantasias não envolvem a Sophia Loren ou a Gina Lollobrigida. Talvez seja homossexual. Isso vai criar tantos problemas para mim..." Ainda por cima, não encaixava na comunidade homossexual. "Não quero falar da Judy Garland!" Nessa altura, li um artigo no New York Times sobre o Harvey Milk e sobre a comunidade gay de São Francisco; dizia que havia homossexuais cowboys, homossexuais desportistas... "Se há um sítio nos Estados Unidos onde posso experimentar sexualmente [quem sou], sem preconceitos, sem pressões, deve ser em São Francisco." Fui com uma mala, mil dólares, sem emprego, sem casa.
O seu irmão era homossexual?
R.Z. - Sim.
O facto de haver um outro homossexual na família tornou tudo mais pesado para si?
R.Z. - Terrível, muito mais pesado.
A.Q. - Ainda por cima porque o irmão dele tinha muitas daquelas características da gaveta.
R.Z. - E não queria ser homossexual. Os outros miúdos faziam troça dele em criança. Vivia revoltado. Eu não. Depois da fase em que entrei em pânico, estava totalmente OK. Quando conheci o Alexandre, fiquei logo apaixonado. Quis contar aos meus pais. "Devo contar, porque isto é uma relação, espero eu, que vai durar." Falei com a minha mãe, com quem tinha uma relação mais sólida, primeiro. Sempre brinco que devia ter dito: "Estou apaixonado, mas ele não é judeu" [riso]. Mas isso para ela não seria importante. Disse: "Estou apaixonado, mas é um homem, não é uma mulher." Antes da resposta, continuei: "Não estou com problemas, não quero que te sintas culpada. Para mim é um enorme prazer, é a realização da minha vida." E ela desatou a chorar.
Chorou de tristeza, desapontamento, incompreensão?
R.Z. - A explicação, mais tarde, é que o meu irmão, durante anos e anos, culpabilizava os meus pais. Pensou: "Vamos ter de passar por isto outra vez." Também estava preocupada por mim. Ser homossexual significava que nunca ia ter uma relação duradoura, que as outras pessoas fariam troça de mim. Depois foi à cozinha, o meu pai estava lá sentado e ela sussurrou-lhe do que se tratava a nossa conversa. Ele respondeu: "Ah, é maricas, também." Em inglês: "He is a faggot." É uma palavra muito forte, muito feia. Ouvi um barulho, uma pancada seca. O meu pai tinha desmaiado. Nunca suspeitara que eu fosse gay.
A.Q. - O Richard jogava basebol.
R.Z. - Como é que um atleta pode ser homossexual? A minha mãe ficou um bocado histérica. Era uma cena de uma ópera cómica, ou dramática, italiana, não sei. Hoje rio-me muito.
A.Q. - O que é curioso é que a minha experiência tenha sido, não direi diametralmente oposta, mas muito diferente.
R.Z. - Mas os teus pais não eram provincianos como os meus. Os teus pais viviam no mundo real, os meus não.
Era provincianismo ou era a religião?
R.Z. - Não era a religião. A minha mãe celebrava as festas judaicas, mas era só tradição.
A.Q. - O Richard nem fez o Bar Mitzvah... Nenhum dos nossos pais, com a excepção da minha mãe, que era protestante, e que ia uma vez por ano à igreja, tinha algo a ver com religião. Não fui baptizado.
R.Z. - O meu pai era comunista, pensava que a religião era o ópio do povo, tal como o Marx disse.
A.Q. - Eu ia contar uma coisa importante. O que me surpreendeu não foi ser atraído fisicamente por homens e por mulheres; foi apaixonar-me por uma pessoa, o que é diferente. Tenho alguma pena das pessoas que fazem uma separação entre o emocional e o sexual. (Agora faço essa separação, porque somos essencialmente monogâmicos, não queremos ter outras relações.) É uma pena ver duas pessoas que estão muito atraídas uma pela outra espiritualmente e que têm medo de se tocar para além da festa.
Não se tocam por causa das convenções sociais?
A.Q. - Pois. As mulheres e os homens heterossexuais arranjam gavetas nas quais não ousam entrar. Muitos deles têm medo de ir explorar isso. Até me apaixonar pelo Richard, os homens e as mulheres por quem me apaixonei eram todos heterossexuais. Com todos eles foi possível chegar a um contacto físico e sexual. Claro que com os homens demorou mais tempo; quando uma pessoa se identifica como heterossexual, tem uma grande dificuldade em tocar intimamente outra pessoa [do mesmo sexo].
Freud dizia que potencialmente somos todos bissexuais.
A.Q. - Não sei se somos.
R.Z. - Há pessoas que são totalmente heterossexuais - uma minoria - e há pessoas totalmente homossexuais - outra minoria. São poucas as que são 50/50. Sou 90% homossexual. Já tive relações, mas não seria possível manter uma relação duradoura com uma mulher.
A.Q. - É muito forte em mim esta repulsa pelas camisolas. Pertencer ao Futebol Clube do Porto ou ser do Benfica, ser católico ou ser protestante. Ou ser de Joanesburgo, sul-africano, moçambicano. O que é que eu sou? Tenho uma mãe alemã, um pai açoriano, nasci em Moçambique, vivi na África do Sul muito anos, estive na Califórnia, estou em Portugal, tenho nacionalidade portuguesa e americana. Não me faz confusão nenhuma não saber identificar-me.
A maior parte das pessoas precisa do conforto de saber onde pertence.
A.Q. - Não sei se precisam. Acho que estão doutrinadas para achar que precisam. Vivemos muito em relação à opinião dos outros - como é que nos identificam, onde é que nos põem, como é que nos consideram? Estes muitos anos de vida foram uma caminhada a libertar-me disso.
Se perguntasse a cada um dos dois se lhes passou pela cabeça esconder...
A.Q. - Quando era miúdo, sim. Mas felizmente, a partir dos 20 e poucos anos, não só não escondia, como não tinha orgulho nem vergonha.
Há muitas pessoas que fazem uma vida toda, e quantas casam e constituem família, escondendo a sua verdadeira orientação sexual.
A.Q. - Não quero ser judgmental, não quero ajuizar se as outras pessoas fazem bem ou mal. Ter de passar o tempo todo a fingir que se é o que não se é deve ser doloroso, e não deve servir para nos realizarmos.
R.Z. - Sei que as pessoas têm um contexto de vida e que é difícil, às vezes; mas viver uma vida não autêntica, sob uma máscara, é uma pena.
Há uma questão subsidiária desta, mas que leva pessoas a esconderem-se: o "senso comum" critica em alguns homossexuais o gay pride, a exibição. Por que é que acham que isso ofende tanto?
A.Q. - Não consigo falar pelas outras pessoas, mas conto uma lição de vida muito grande por que passei. Cheguei a São Francisco em Novembro e passei o primeiro Natal sem amigos, com a família nos antípodas da Terra. Estava muito só e sem saber se tinha feito a decisão certa, de me afastar de todo o meu passado. Fui para um café, e a certa altura aproximou-se um queer, um travesti bastante exibicionista. Um indivíduo que era homem, que estava vestido de mulher, todo cheio de pinturas. Senti-me muito incomodado, OK? Ele perguntou se podia sentar-se à mesa, e eu tive uma reacção muito fria, do género...
"Não quero ser visto com ele?"
A.Q. - Um pouco. Ele foi muito educado. Estivemos para aí quatro horas a conversar. Referi-me a mim mesmo como uma espécie de atrasado mental: "Eu que tenho a mania que sou aberto, como é que posso ter tido esta reacção? Esta pessoa, a única coisa que queria era companhia, como eu."
R.Z. - Todos os dias vejo jovens a beijarem-se em frente a toda a gente; isso também é exibicionismo? Se um casal homossexual fizesse isso, toda a gente ficava horrorizada, mas acontece todos os dias em Lisboa e no Porto e ninguém diz nada. Há um duplostandard. Sou gay, sou judeu, sou americano em Portugal. Há a tendência por parte de pessoas liberais, não-progressistas, de dizer: "Não gosto nada dos judeus, mas gosto de si." Ou: "Não gosto nada de homossexuais, mas tu és fixe." Nessas circunstâncias sou o mais judeu, o mais americano e o mais homossexual possível. Não quero ser aceitável. Quem sou eu para julgar aquele homossexual efeminado ou aquele judeu religioso, ou aquele americano que só come hambúrgueres e pizza?
Já tinha estado em público com os dois e nunca vos tinha visto de mão dada. Isso foi uma coisa sobre a qual falaram, que decidiram fazer ou não em função do sítio onde estão?
R.Z. - Andávamos de mão dada em São Francisco, mas não muito. Eu sou mais afectuoso, sou mais táctil. Sou mais como a mãe do Alexandre; éramos iguais.
A.Q. - Andamos muitas vezes de braço dado na rua, quando andamos a passear. As pessoas aqui no bairro todas nos vêem.
R.Z. - Quando chegámos, era muito mais difícil para ele do que para mim.
O Richard era estrangeiro, o Alexandre era português.
R.Z. - Eu dava aulas na Escola Superior de Jornalismo, mas ele era um professor catedrático, ia começar um novo instituto, ia ter de pedir dinheiro de Lisboa [para os projectos científicos do instituto].
A.Q. - Uma vez, na Festa da Árvore no Jardim Botânico, o Richard foi convidado para estar no júri, para apreciar trabalhos feitos por miúdos de escolas. Quando cheguei, fui ter com ele e dei-lhe um beijo na cara. Várias pessoas foram dizer a outras pessoas para me dizerem que tinha de ter cuidado. Até fiquei espantado. Há tantos homens em Portugal que se beijam. Os amigos antigos abraçam-se e dão beijos, os pais e os filhos dão beijos. Não havia ninguém no Porto, desde o reitor até ao ministro, [que não soubesse que são um casal]. Quando veio cá o [Bill] Clinton, o Jorge Sampaio convidou-nos aos dois como casal.
Passaram 22 anos desde a vossa vinda. O país mudou muito. Isto faz-nos voltar ao ponto de partida da entrevista, à decisão de se mudarem para cá. O modo como seriam aceites, enquanto casal, foi uma coisa que também ponderaram?
A.Q. - Perguntei a duas pessoas. Uma pessoa no topo da ordem social, nosso amigo. A resposta que me deu foi: "Não." Era uma pessoa de esquerda, não sei se isso afectou. Depois perguntei a uma empregada doméstica que nos conhecia bem.
Perguntar a uma empregada doméstica era uma forma de ter a reacção do português comum?
A.Q. - Sim, de uma pessoa que anda de autocarro. A resposta dela foi fabulosa: "Olhe, professor, temos tanto trabalho que essas coisas não fazem parte das nossas preocupações." Achei aquilo uma lição ("Você acha que é assim tão importante, que alguém vai ligar alguma coisa?"). As pessoas podem fazer alguns comentários, mas também têm dificuldade em ser agressivos directamente. Nunca senti agressividade nenhuma em Portugal, nunca.
É também por ser o professor catedrático, por ser alguém que vem de fora?
A.Q. - Talvez.
R.Z. - Fiz 34 sessões de escolas no ano passado, falando da minha escrita, de ser judeu, de muita coisa. Eles sabem...
A.Q. - Às vezes convidam-nos juntos, eu vou falar de Ciência, ele de Literatura.
R.Z. - Há dois meses, uma professora disse-me: "Estou preocupada porque o Richard não falou do Alexandre Quintanilha. Pode falar de qualquer assunto, não temos preconceitos." Eu disse: "Não falei do Alexandre porque ninguém perguntou nada sobre isso, mas agradeço na mesma."
Vamos voltar ao começo da vossa história, em 1978. É sempre uma coisa mágica, no meio de milhões de pessoas, encontrar "a pessoa". Pela maneira como falam um do outro, parece que perceberam imediatamente que era "a pessoa".
R.Z. - Eu percebi imediatamente. Ele levou dois ou três dias. Pensava, talvez, que eu fosse drogado [riso].
Como é que se conheceram?
A.Q. - Num café.
R.Z. - Num café maravilhoso.
A.Q. - Num café maravilhoso em São Francisco, que se chama Café Flore, como o de Paris. Ia lá ao domingo de manhã tomar um café e comer um muffin. Estava a conversar, estava a falar de Proust - pretensioso e intelectual! - e ele apareceu com mais duas pessoas. De repente os nossos olhos cruzaram-se. Achei-o lindíssimo, porque era e porque é. Eu estava a falar e a pessoa com quem eu estava levantou-se para ir buscar um café; ele veio ter comigo e começou a conversar. "Por que é que não vamos?" E eu disse: "Deixa-me pelo menos acabar a conversa." Acabei a conversa e fomos. Estivemos uns três dias juntos, sem parar.
R.Z. - Fomos ao meu apartamento, que eu partilhava com duas pessoas. No meu quarto não havia móveis. Dormia em cima de um colchão de sumaúma que tinha comprado por cinco dólares. Estava limpo, tinha lençóis, mas eu não tinha dinheiro nenhum.
A.Q. - A parte mais importante do corpo de uma pessoa é a cara.
Porque a cara diz quem é a pessoa? O que é que vê na cara?
A.Q. - Os olhos, a expressão. Ele tem uns olhos muito expressivos, tem uma boca muito grande, com um sorriso enorme que lhe enche a cara. Tem este nariz maravilhoso, enorme. (A primeira mulher por quem me apaixonei era filha de um casal português/alemão; tinha uns olhos lindíssimos, um nariz muito grande e uma voz quente. Tinha 35 anos e eu tinha 12 anos.)
O que é que um nariz assim pronunciado representa para si?
A.Q. - Deve significar personalidade, ter as coisas muito vincadas.
O Richard gosta do seu nariz? Ou gosta mais agora porque o Alexandre gosta?
R.Z. - Como qualquer adolescente, faltava-me a confiança de achar que era bonito. Quase todos os adolescentes passam por essa fase. Teria gostado de ter a cara do Tyrone Power ou do Randolph Scott [actores americanos] e não tinha. Levou-me alguns anos a habituar-me à minha cara. Nisso a minha mãe foi muito importante, disse-me sempre: "És o rapaz mais lindo do mundo." Depois conheci o Alexandre e ele gostava de mim. Hoje, com 56 anos, estou completamente à vontade dentro do meu corpo.
A.Q. - Eu nunca estive à vontade dentro do meu corpo. Nunca achei que era atraente. Sabia que era relativamente inteligente, que tinha capacidade de sedução. Sei falar, conheço muitas línguas, tenho charme, quando quero, mas nunca me senti fisicamente atraente. Foram estes 34 anos de vida com ele que me fizeram sentir mais à vontade no meu corpo. Foi uma aprendizagem. Tinha uns mitos, [queria ser como] o Paul Newman.
O Alexandre era muito bonito quando tinha 30 anos?
R.Z. - Era e é, e vai continuar a ser. Era diferente de 99,9% dos homens. Essa coisa de ser bonito não é só uma questão física. É a maneira de ele andar, a maneira de olhar, de falar. É óbvio que tem qualquer coisa de bonito dentro dele. Irradia isso na sua cara, principalmente, mas também no corpo. Já vi homens fisicamente bonitos mas que me metem medo; olho para os seus olhos e não há nada. Era incapaz, mas mesmo incapaz, de dormir com uma pessoa assim, mesmo que fosse a pessoa mais bonita do mundo.
Perceberam imediatamente que era "a pessoa". Isso contrariava desde logo duas gavetas em relação à homossexualidade: a da promiscuidade e a de as relações serem curtas.
R.Z. - Quando uma pessoa se apaixona por outra, o primeiro ano e meio, ou dois anos, é de uma energia sexual e espiritual formidável. Vive-se numa espécie de euforia corporal e sexual. Pensava que gostaria de construir uma vida com este homem.
A.Q. - Levei mais tempo a perceber que tínhamos de tomar decisões em conjunto. Quando viemos para Portugal, não foi nada fácil. Eu nunca tinha vivido em Portugal (tinha cá vindo algumas vezes passar férias), ele muito menos. Quando nos mudámos, entrávamos num restaurante e o esterco no chão era uma coisa inacreditável. Nas casas de banho, tínhamos medo de tocar nas maçanetas das portas. Combinámos que vínhamos por um período de dois anos, e depois decidíamos se conseguíamos ficar. O choque cultural foi enormíssimo, para ele e para mim.
A relação podia ter acabado antes da vinda para Portugal, ou não equacionaram vir um sem o outro?
R.Z. - Isso era impensável. Tínhamos uma união muito forte.
A.Q. - E se ele não tivesse conseguido ficar cá, eu também não ficava. Era muito claro.
R.Z. - Passámos por fases difíceis na nossa relação, mas mais no princípio. Porque o pessoal é jovem, não sabe o que quer. São difíceis os primeiros anos de qualquer relação com pessoas muito jovens, que ainda estão a descobrir a sua identidade.
Tiveram aquelas discussões em que parece que não há amanhã? Que não sobrevivem juntos até ao dia seguinte, tal a erosão.
R.Z. - Nunca tivemos isso.
A.Q. - Nunca foi a esse ponto.
R.Z. - Houve alturas em que disse: "Não compreendo este homem! Não compreendo como ele raciocina, a sua maneira de ser." Eu perguntava: "O que é que estás a dizer, por que é que estás a dizer isso, qual é a tua intenção?", e ele respondia: "Não vou falar disso, estás a tentar mudar a minha maneira de ser, recuso entrar nessa conversa."
As pessoas não querem mudar?
A.Q. - Não querem ser forçadas a analisar-se, a explicar qualquer coisa. Temos muito a mania de que a outra pessoa está a interferir na nossa identidade. Vê-se isso muito na maioria dos casais heterossexuais que conheço. Não falam. O diálogo entre as pessoas é muito pobre. A minha ideia era: "Não sei muito bem porque é que sou assim, mas também não quero saber, estou-me nas tintas." That"s the way I am, take it or leave it. [Sou como sou, é pegar ou largar.]
R.Z. - Ele era muito dedicado ao trabalho. Tinha 33 anos, queria afirmar-se como cientista num sítio muito competitivo. Tinha de trabalhar dez horas por dia durante seis ou sete dias por semana para conseguir o que queria. Eu podia ter compreendido tudo isso, mas ele recusou explicar.
Porquê essa competitividade e desejo de vencer?
A.Q. - Saí de Moçambique para a África do Sul, uma cultura nova, e tive de sobreviver. Depois saí dali e fui para outra cultura completamente nova.
Sobreviver num sentido amplo, não num sentido económico.
A.Q. - Em Joanesburgo os meus pais ainda me ajudaram, mas a partir do 4.º ano da faculdade, antes de começar o doutoramento, já não tinham possibilidade. Não podia sair dinheiro de Moçambique, era a Guerra Colonial. Tive de arranjar um lugar como assistente de laboratório em Joanesburgo para me sustentar. E, quando fui para Berkeley, levei dois mil dólares para sobreviver uns meses até arranjar trabalho. Estava muito preocupado com esta questão da sobrevivência física, económica, intelectual e científica.
Insisto na longevidade da vossa relação, depois da turbulência dos primeiros anos. O mais difícil numa relação, independentemente da orientação sexual dos cônjuges, é estarem tanto tempo juntos e bem. Por isso as pessoas perguntam: "Qual é o segredo?"
R.Z. - Temos um bocadinho de sorte, e foi um bocadinho de trabalho. Em qualquer relação que é um verdadeiro casamento (e há casamentos que não são casamentos, são duas pessoas a viver juntas), existe a pessoa A, a pessoa B e o casamento. Há três seres vivos numa relação e tem de se ter muito cuidado com o terceiro ser vivo: o próprio casamento. Tem de se valorizar, polir, prestar atenção, senão a relação vai acabar. Os dois estamos muito conscientes disso. Apaixonarmo-nos por uma pessoa é muito fácil (com algumas pessoas que conheço, acontece de duas em duas semanas). Mas é preciso aprender a respeitar o outro. Para o Alexandre, era mais natural, tinha dois pais muito respeitosos. Eu não tinha isso. Os meus pais diziam coisas um ao outro que eu não diria ao inimigo mais feio do mundo, coisas reles. Apaixonar-me por ele era superfácil, mas respeitar a sua opinião, a sua maneira de ser, as coisas que ele dizia e com as quais não concordava, as coisas que ele fez e que não compreendi, levou-me anos.
A.Q. - Não acredito que haja relações duradouras se cada uma das pessoas não tem a sua própria vida construída. Quando o Richard está a escrever (já sei, porque escreveu vários livros), está de tal maneira obcecado com a escrita que eu sou uma espécie de audiência. E quando estou muito ocupado e ando muito cansado, ele sabe que estou a fazer qualquer coisa que para mim é importante. Nessas alturas, temos muito respeito para não exigir mais do outro. Isto aprende-se. Quando a pessoa começa a sentir uma verdadeira realização pessoal com a realização do outro, quando deixa de haver aquela necessidade egocêntrica - "preciso que me dês mais atenção porque estou inseguro" -, isso é que é uma relação conseguida.
É natural que tenha havido, sobretudo nos primeiros anos, estatutos desiguais. Nem que seja porque existe uma diferença de onze anos entre os dois. O que é que o Richard fazia nos Estados Unidos? A sua formação é Religiões Comparadas.
R.Z. - Mudei para São Francisco e fiz muita coisa. Era um busboy, limpava as mesas num restaurante e era estafeta. Depois comecei a trabalhar como secretário. Aos 26 anos, voltei para a escola, para tirar um mestrado em Jornalismo na Stanford. Mas é verdade, tínhamos patamares diferentes. Eu trabalhava como empregado de mesa e ele não olhava para mim como uma pessoa de menor importância.
Era também esse tempo e esse país. Em Portugal, a estratificação social era (e é ainda) mais vincada. Não imagino que um professor da Universidade do Porto vivesse com uma mulher que serve à mesa.
A.Q. - Pois.
R.Z. - Mas ele era de Moçambique, com um pai açoriano e uma mãe alemã, muito influenciado pela África do Sul e pelos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, não se avalia uma pessoa pelo seu trabalho. Um carpinteiro maravilhoso pode ler Proust e Stendhal. Não temos essa ligação directa entre o que uma pessoa faz e a sua capacidade intelectual ou espiritual, ou a sua sensibilidade. Eu não podia ter mantido uma relação com uma pessoa que pensava menos de mim por ser empregado de mesa.
Foi em Portugal que começou a sua carreira de escritor. No fundo, foi uma outra vida que começou aqui também.
R.Z. - Já tinha escrito muito jornalismo, e tinha escrito 20 e tal contos, e publicado uma dúzia deles em revistas americanas. Chego a Portugal com a ideia para O Último Cabalista de Lisboa. Em Berkeley fui com o cartão do Alexandre à biblioteca tirar livros sobre Portugal, Espanha, século XVI, casas, filosofias, roupa. Continuei a pesquisar aqui e a mergulhar-me na história portuguesa e no meu romance. Em parte, era a minha maneira, indirecta, de me adaptar a Portugal, e de valorizar Portugal, a história portuguesa.
Como é que foi a sua inserção? Quais foram as grandes dificuldades?
R.Z. - Cheguei aqui desorientado. O meu irmão tinha morrido em Maio de 1989, o meu pai faleceu em Junho de 1990. Na América, temos outra maneira de lidar com a amizade. Somos mais informais, falamos de tudo, logo. Um americano, cinco minutos depois de a conhecer, já está a falar do divórcio e do herpes. Mas o português, em 1990, era ao contrário. Falava de filosofia, de arte, do tempo, de tudo menos da vida pessoal. Eu não consigo estabelecer uma relação duradoura e profunda de amizade sem ter a possibilidade de falar da minha vida íntima, medos, dúvidas, problemas.
Sem falar sobre aquilo que verdadeiramente lhe interessava.
A.Q. - Os portugueses chegam a fazer isso, às vezes, depois de uma relação duradoura. Mas Portugal nos últimos anos mudou de uma forma extraordinária, e acompanhar isso foi muito interessante. (Uma das coisas que mais me impressionaram foi o empowerment das mulheres. O 25 de Abril teve um impacto muito maior nas mulheres do que teve nos homens. Elas estavam mais reprimidas. E ver a mudança dramática que houve no investimento na ciência, na educação, que afectava jovens que estavam ao pé de nós - ele também esteve uns anos a ensinar -, foi muito excitante.)
Estiveram para regressar aos Estados Unidos em algum momento?
A.Q. - Estivemos. O director da divisão onde trabalhava veio cá várias vezes e de cada vez perguntava-me se não queria voltar. Estávamos neste choque cultural e a tentação de voltar era enorme.
R.Z. - Ele chegou com grandes projectos. Um deles era criar o que viria a ser o Instituto de Biologia Molecular. Além de todos os problemas [decorrentes] de criar um centro de investigação com centenas de cientistas, havia pessoas que queriam que falhasse. Portugal é um país muito pequeno, com muitas rivalidades, muita mesquinhez. Desculpe dizer, mas todos sabemos isso.
Já pode dizer porque já é português. Nós, portugueses, não gostamos que os de fora digam mal de nós, mas dizemos o pior possível de nós mesmos.
R.Z. - Estas coisas também existem no Estados Unidos. Mas lá, como é um país muitíssimo maior, é possível fazer uma outra vida num outro lugar.
A.Q. - Eu não sabia como é que funcionavam as coisas. Recusava-me a fazer telefonemas a pedir favores. Em Portugal, as coisas eram assim. Não quero que fique com a ideia de que as rivalidades foram muito grandes. Havia uma ou outra pessoa que não gostava de mim. Também tive muita ajuda, muita gente que achou que este projecto valia a pena, que deu muito apoio. Tive apoio de Lisboa para desenvolver um novo instituto, e depois para fundir este com outro, o Instituto de Engenharia Biomédica, para construir um laboratório novo.
Ao longo destes anos, pensaram em casar?
R.Z. - Estamos casados há dois anos e um mês. Antes não era possível.
Nos Estados Unidos também não era possível?
A.Q. - Passou a ser possível nos últimos dez, 15 anos [em alguns estados]. Demos passos pequeninos. Há 30 anos que temos testamentos, que fizemos nos Estados Unidos, dizendo que tudo o que é meu é dele e que tudo o que é dele é para mim, se algum de nós falecer.
R.Z. - Quando a sida começou, o cônjuge do doente não podia visitá-lo porque não estavam casados. Não tinha direito porque não fazia parte da família. Queríamos evitar isso e tomámos medidas.
A.Q. - Outra coisa que também fizemos muito cedo foi o testamento vital, que já existia lá, a exigir que o médico não tomasse medidas suplementares para manter a pessoa viva. O casamento, para mim, nunca teve um significado muito grande, nem simbólico nem pessoal. Tem um significado muito grande, sim, em termos de direitos e deveres das duas pessoas. Mas quando casámos, como eu tinha mais de 60 anos, o casamento teve de ser com separação de bens. Casámos com separação de bens e temos um testamento escrito num notário português.
R.Z. - Está tudo nos dois nomes, as casas, o dinheiro, para ser mais seguro.
Como foi o casamento?
A.Q. - Convidámos um número muito pequeno de pessoas, que são muito íntimas. Ficaram muito emocionadas, foi o primeiro casamento gay em que estiveram. E o notário trouxe-nos um presente de casamento, um disco de música sefardita galega. Uma coisa lindíssima.
R.Z. - Ele tinha pesquisado os dois na Internet e sabia que eu tinha escrito sobre assuntos judeus.
A.Q. - Quando nos mandou o certificado, mandou uma carta em que nos agradecia por lhe termos dado a oportunidade de realizar esta cerimónia pela primeira vez na vida. Fiquei muito comovido. Às vezes fico surpreendido. Entro num avião e vem uma hospedeira dizer-me que tenho de dizer ao Richard que ela gostou imenso do último livro dele. Há aqui uma espécie de - não sei como é que se diz em português... - conluio: as pessoas acham que isto é especial.
Também sente isso?
R.Z. - Posso estar nos sítios mais pequenos de Portugal, aldeias pequenas, e as pessoas vêm ter comigo, agradecem os livros e mandam beijinhos para o Alexandre. É uma grande boa vontade por parte de muita gente.
A.Q. - Não estou nada convencido de que os preconceitos desapareceram. Mas já começa a haver, em muitos casos, uma certa vergonha dos preconceitos.
Por que é que para si foi importante casar?
R.Z. - Simbolismo. Ainda há sítios no mundo em que ser homossexual pode ser punido com sentença de morte, com penas de dez anos, ou mais, de prisão. Para mim, como escritor, como ser humano, o facto de ser um crime exprimir o que é melhor dentro de nós, a afeição, a paixão, a solidariedade e a amizade, é inconcebivelmente injusto. É muito importante reivindicarmos os nossos direitos no Ocidente, para que um jovem que tenha acesso à Internet no Burkina Faso, na Nigéria ou na Birmânia, possa ir ao site do PÚBLICO em Portugal [e ler esta entrevista].
É também por isso que dão a entrevista?
R.Z. - Claro que sim. Vivi num mundo em que não era possível as pessoas das pequenas aldeias dos Estados Unidos assumirem-se. E em Portugal talvez ainda não seja possível em aldeias do interior. Falo disto para que aquela jovem lésbica de Castelo Branco, ou o jovem transexual de Fafe possam olhar para mim e para o Alexandre e descobrir: "Não tenho de mudar para ser aceite. Posso ser como sou. Tenho os mesmos direitos dos outros. Não há cidadãos de segunda em Portugal."
A.Q. - Pensei muito sobre se devia dar esta entrevista ou não, porque não tenho de explicar rigorosamente nada. As pessoas são aquilo que fazem e aquilo que são, e não aquilo que dizem. Há uma pequenina coisa que é muito importante: a questão dos role models. A grande diferença entre um casal heterossexual e homossexual, para já - no futuro não vai ser assim - é que os casais heterossexuais têm filhos, têm netos. No nosso caso, como não temos filhos (já pensámos adoptar, volta e meia, mas não foi uma coisa muito premente), essas relações têm de ser substituídas por outras. Temos de inventar outras partes da nossa relação que sejam alternativas a essas. Temos de nos reinventar e dar a noção a outros gays de que isso é possível, realizável. É preciso que o mundo à nossa volta perceba que não me acho especial, positiva ou negativamente, por ser assim. Tive muita sorte em encontrar uma pessoa como o Richard, tive muita sorte em ter os pais que tive, em viver nos sítios onde vivi, apesar de às vezes me sentir muito só e de ter momentos muito difíceis de afirmação pessoal. Isso também é uma história que vale a pena divulgar. Numa sociedade que está cada vez mais competitiva, é importante as pessoas falarem daquilo que não é competição selvagem. É a partilha, é sentirmos - isto parece uma treta... - que o mundo, se tivermos boa vontade e se funcionarmos de boa-fé, vale a pena.
Que vida fazem na vossa casa de fim-de-semana, em Cristelo?
A.Q. - Muito desse tempo passamos no jardim, a cavar, a cortar, a plantar. Vamos para o jardim (é grande, estamos em sítios diferentes), encontramo-nos à hora do almoço, estamos juntos, depois vamos outra vez para o jardim.
R.Z. - Tenho uma vantagem: trabalho em casa e só faço o que quero. Aos 56 anos consegui isso. Cada vez mais recuso sessões, promoções, porque estou muito bem comigo, estou muito bem com o Alexandre, estou muito bem em casa. Adoro escrever, adoro fazer jardinagem. Por que é que vou interromper isso?
A.Q. - Há quatro anos, decidimos que todos os anos passamos cinco semanas a viajar nas montanhas dos Estados Unidos.
É quando encarna o personagem Clem?
R.Z. - Alexandre não é um nome [que vá bem com aquela paisagem]. Chamo-lhe Clem, como Clemente, e falo com sotaque do west. [riso]
A.Q. - Very entertaining. [riso] Não levamos telemóveis nem computadores. Estou a descobrir uma América que não conhecia. Tinha aquele snobismo de que em África era tudo mais bonito, mais selvagem, e que ir para o meio dos Estados Unidos só para ver campos de trigo e de milho não me interessava nada. As montanhas são lindíssimas.
Fazem as cinco semanas de seguida?
A.Q. - Não. Eu preciso de Nova Iorque, mais do que ele. Preciso de lá estar uns dez dias todos os anos. Fazemos cinco dias em Nova Iorque, depois vamos para um sítio qualquer. A última vez estivemos em Denver, alugámos um carro e fomos passear pelas montanhas. Ficamos em motéis. Parar o carro à porta do quarto é uma maravilha, lembra-me a África do Sul. As pessoas não são sofisticadas, mas são muito genuínas. Nunca falamos de sexualidade ou religião, mas falamos de tudo o resto, de arte, de música, de Portugal. Os americanos em geral são amigáveis e informais.
Isso também vos faz perceber que para essa América não poderiam voltar, nessa não poderiam viver.
R.Z. - Não sei.
A.Q. - Daqui a dois anos tenho 70 anos, tenho de me reformar. Uma das coisas que andamos a discutir é se vamos passar períodos de dois meses, duas vezes por ano, nos Estados Unidos. A mim falta-me... O Richard às vezes goza comigo porque tenho de ir aos supermercados onde ia.
R.Z. - É muito sentimental! Gosta de ir às lojas onde a minha mãe andava.
A.Q. - Vou aos supermercados onde íamos fazer compras. Às vezes, ela vinha connosco. Tenho um gosto enorme em ir aos supermercados, com o mesmo cheiro. Chegar lá assim ao género do Proust, que comia a madalena [e recuperava a sua infância]. A minha madalena são os supermercados! [riso].
R.Z. - É do género do Pingo Doce, muito pouco interessante.
É muito pouco Proust.
A.Q. - Mas cada um tem o Proust que merece!
Retomo a questão: seria possível viverem nessa América profunda e viverem aí abertamente a vossa homossexualidade?
R.Z. - Sim. O bairro em que vivia quando conheci o Alexandre, o Castro, é um bairro residencial, simpático. Quando estive lá no fim dos anos 70, a maioria das pessoas eram jovens que vinham de Tallahassee, da Florida, de Atlanta, de Denver, que iam para São Francisco encontrar a felicidade. Hoje, o Castro é um sítio de homens com mais de 55 anos.
A.Q. - São os que ficaram.
R.Z. - Os jovens que hoje em dia vivem em Tallahassee, em Albany, em Bufallo, em Cleveland, não têm de ir para Nova Iorque ou São Francisco. Podem permanecer na sua cidade e ter uma vida realizada, abertamente homossexual. Isso é uma mudança muito grande nos Estados Unidos.
É recente?
R.Z. - É dos últimos dez anos. Em parte, é um efeito da televisão, de programas como Will & Grace. Apesar de ser um país de religião fundamentalista, nas cidades, para pessoas entre os 18 e os 35 anos, ser homossexual é um não assunto, independentemente de se ser republicano ou democrata, conservador ou progressista.
A.Q. - As séries televisivas tiveram um impacto enorme sobre isso. Da mesma maneira que as séries brasileiras, quando chegaram a Portugal, tiveram um impacto enorme na forma de pensar.
R.Z. - Na Europa, ter um presidente da câmara de Paris ou de Berlim, abertamente homossexual, muda tudo. Agora há pessoas com cargos de respeito que são homossexuais e que têm uma vida como qualquer um. Ele não dá ordens gay para limpar as ruas, ele dá ordens como presidente da câmara. Quando escrevo um livro, não escrevo um livro homossexual, estou a escrever um romance. Estes rótulos vão deixar de existir. Estamos a lutar por isso.
A aprovação do casamento gay em Portugal foi um passo de gigante para que isto deixe de ser um assunto?
A.Q. - Sim. Ter sido aprovado e ter tido pouca contestação, o que é uma coisa muito interessante.
R.Z. - Toda aquela gente que previa o fim do mundo...
A.Q. - Só daqui a vários anos vamos perceber o impacto. Uma das razões pelas quais tive dúvidas sobre dar esta entrevista foi porque já quase deixou de ser um assunto em Portugal. Tinha medo que as pessoas pensassem que estava a fazer a apologia de qualquer coisa, ou que havia a necessidade de falar sobre um assunto.
R.Z. - É um risco. Não quero ser conhecido como um escritor gay, como também não quero ser conhecido como escritor judeu, ou escritor americano. Quero ser conhecido como um bom escritor. Decidi correr esse risco. Os benefícios para a tal jovem de Castelo Branco e para o jovem de Fafe são mais importantes. Há pessoas que estão a sofrer imenso no mundo simplesmente por amarem uma pessoa do mesmo sexo.
Falam inglês um com o outro e esta entrevista foi em português. Teria sido diferente se fosse em inglês?
A.Q. - Provavelmente. Usei muitas palavras inglesas. Como é que seria diferente? Não sei.
R.Z. - Talvez eu brincasse mais. O meu vocabulário é maior em inglês. As nuances da linguagem, consigo medi-las de uma forma diferente. Não me custa nada falar português. Gosto de ser português. Sou uma pessoa muito mais rica, muito mais confiante, mais capaz de escrever excelentes livros - espero eu - por ter esta experiência de viver há 22 anos em Portugal. E também por ter mantido uma relação de 34 anos com o Alexandre. Não sou a mesma pessoa que escreveu O Último Cabalista de Lisboa. Essa pessoa já não existe, felizmente. Uma pessoa que não evolui é um ser morto.
Querem dizer mais alguma coisa ou ficamos por aqui?
R.Z. - Estávamos a falar das razões pelas quais era possível manter uma relação durante tanto tempo e só queria acrescentar que o Alexandre é o meu melhor amigo. Não posso imaginar viver 34 anos com uma pessoa que não fosse o meu mais profundo e mais importante amigo. Adoro passar dias inteiros com ele. Preciso de passar muito tempo sozinho, mas posso passar esse tempo com ele. Eu sozinho ou eu com ele é a mesma coisa. Ele esteve doente, há cinco anos, com pneumonia, e teve de ficar em casa três meses. Estava deitado e eu, como Florence Nightingale, ou Dr. House, estava aqui todos os dias. Era como uma lua-de-mel. Passava 24 horas por dia com ele, e era espectacular. Não há nada que não lhe possa dizer, não sinto qualquer limitação.
A.Q. - Queria dizer duas coisas. A primeira é que votei no Obama muito antes de ele dizer que estava de acordo com o casamento homossexual. E voltei a votar este ano. Espero que ganhe. [A entrevista foi realizada antes das eleições.] Estou com muito receio. O Mitt Romney é muito mais perigoso do que dá a entender. Como é mais inteligente que o George W. Bush, é capaz de ser muito mais perigoso do que ele. A outra questão: estou muito preocupado com o crescimento da iniquidade em Portugal.
É um país muito mais iníquo, agora?
A.Q. - Sim. É das coisas mais graves que vi nestes últimos 20 anos. É criminoso que nestas propostas [do Orçamento do Estado] o aumento dos impostos dos mais ricos seja em percentagens mais baixas que o dos mais pobres. Os pais do Richard viveram o tempo do Roosevelt, que criou trabalho depois da Grande Depressão, o New Deal. Gostaria muito que houvesse um New Deal em Portugal. Os que têm mais deviam contribuir mais, os que têm menos deviam contribuir menos. São os dois grandes dilemas nesta altura, a iniquidade e os miúdos a sentir que não têm escolhas, que a única escolha é ir lá para fora. A consequência disso sobre a saúde mental dos portugueses vai ser muito séria. Já não tínhamos uma saúde mental muito boa [riso]."
Para eles, fazia sentido expor a relação que vivem e correr o risco de apanhar com rótulos, estereótipos, gavetas. Não se pergunta se são a favor da adopção de crianças por casais homossexuais (ainda que a resposta esteja implícita na entrevista) nem se pergunta por que é que eles acham que são homossexuais (perguntar-se-ia a um heterossexual por que é que ele acha que é heterossexual?). Mas pergunta-se pelo modo como lidaram com a sua homossexualidade, familiar e socialmente.
Eles souberam, desde o princípio, que o outro era o tal. Não se enganaram. Sorte? Sorte e trabalho, respondem os dois.
Gostava de começar, não pelo princípio da vossa vida comum, mas por um certo princípio, que foi a vinda para Portugal. Por que é que decidiram começar uma nova vida?
Alexandre Quintanilha - Cheguei à [São Francisco] Bay Area no princípio dos anos 70, o Richard chegou em 1977. Conhecemo-nos no ano seguinte e passámos a viver em Berkeley. No fim dos anos 80 aconteceram dois episódios que alteraram a nossa forma de estar. A epidemia do HIV começou a aparecer. Houve dois ou três sítios na América que foram muito afectados. A área da baía, e em particular São Francisco, foi uma delas.
San Francisco tinha o rótulo de ser uma cidade onde a comunidade gay se sentia bem. Algumas das lutas pelos direitos dos homossexuais, encabeçadas pelo activista Harvey Milk, aconteceram aí.
A.Q. - E não só. Era um sítio onde tinha havido movimentos hippie, onde toda a gente fumava, se injectava. A partir de 85, 86, era quase impossível, tanto na universidade como fora dela, ir almoçar com amigos e o tema da conversa não ser o HIV.
Richard Zimler - Como a crise, agora, em Portugal - ninguém fala de outra coisa.
O seu irmão veio a falecer de sida. Nessa altura já se tinha declarado a doença? Era encarada como uma sentença de morte.
R.Z. - Sim. Antes de 83, 84, ele suspeitava de que tinha qualquer coisa. Depois confirmaram que era HIV.
A.Q. - A área da baía era um lugar de liberdade, de exploração. Tinha havido movimentos contra a guerra do Vietname, muitos feminismos começaram lá. As lutas em Oakland, pelos direitos dos negros, tinham sido importantes. Era uma área dinâmica de muitos pontos de vista. E a partir dos anos 80 havia a sensação de que não se podia escapar deste assunto. Ainda bem que nos conhecemos em 78; não tenho a certeza, se nos tivéssemos conhecido mais tarde, se um de nós não teria tido sida.
Conheceram-se num período em que toda a experimentação era possível. Sem fantasmas. Isso marcou a vossa relação?
R.Z. - Eu só tinha 22 anos quando conheci o Alexandre. Mudei-me para São Francisco quando tinha 21 anos, e estava a começar a vida sexual, a vida espiritual, a vida profissional. Chegar à Bay Area era o começo de uma longa viagem. Ele tinha 33 anos (na altura pensávamos que era já muito avançado na idade...). Para os dois, era o começo de uma aventura. E de repente chegou a sida. Eu trabalhava na Victoria"s Secret, uma firma de lingerie feminina; era secretário. Trabalhavam lá umas 60 pessoas e diria que uns dez ou 12 eram gay. Harvey Milk disse que, quando as pessoas começassem a sair do armário, todos íamos perceber que o carteiro era gay, que a empregada de mesa no nosso restaurante favorito é lésbica, que o professor de Matemática que o nosso menino adora é homossexual. São Francisco era o primeiro sítio no mundo, pelo menos nos Estados Unidos, em que isso já estava a acontecer.
A orientação sexual não era um assunto?
A.Q. - Deixou de ser assunto.
R.Z. - Na minha empresa, todos os homossexuais eram gente assumida, não havia qualquer problema. Foi por isso que foi de Nova Iorque para São Francisco? Não é um americano do Middle West, dos estados conservadores.
R.Z. - Mesmo em Nova Iorque, mesmo dentro de uma família de gente formada... O meu pai tinha uma licenciatura em advocacia, a minha mãe era bioquímica, mas os preconceitos contra os homossexuais eram violentos. Quando suspeitei de que era homossexual, entrei em pânico. Sabia que contar aos meus pais, aos meus amigos, ia provocar problemas. Os meus pais não eram racistas, a minha mãe era feminista; o último preconceito a perder era a homossexualidade.
A.Q. - Muito diferente da minha família.
Como é que foi consigo?
A.Q. - Os meus pais não eram nada preconceituosos. Não disse que era gay, não existia essa expressão quando tinha 16 anos. Disse aos meu pais que estava apaixonado por um homem e que não percebia. Não havia role models [exemplos] para isso. O meu pai disse-me que não era uma coisa que ele percebesse, mas que se isso me preocupava podia arranjar uma pessoa com quem eu pudesse falar. E fui falar com um psiquiatra, duas vezes.
Só para situar: isso passa-se em Moçambique, há 50 anos, e o seu pai é um prestigiado biólogo.
A.Q. - Na primeira vez em que estive com esse homem extraordinário, dei-lhe a ler um diário meu. Estava convencido de que era uma obra-prima da literatura [riso]. Na sessão seguinte, entregou-mo e disse: "Você está apaixonado. Isso é uma sensação maravilhosa. Devia estar satisfeito por estar apaixonado." Eu não tinha a certeza se era mesmo gay ou se era bi. A minha mãe, a única coisa que me disse foi: "Quero é que sejas feliz."
Onde é que radica a abertura que manifestaram?
A.Q. - Da minha mãe é muito claro. Era alemã e cresceu em Berlim nos anos 20 (era o sítio mais civilizado do mundo). Teve relações muito fortes tanto com homens como com mulheres. O meu pai, apesar de nunca ter tido esse tipo de sensação, não achou que fosse uma coisa preocupante. Isto libertou-me imenso. Mesmo na África do Sul (para onde fui fazer a faculdade), já não tinha necessidade de fingir que não era aquilo que era. Quando me aproximava das pessoas emocionalmente, quer fossem mulheres, quer fossem homens, era de uma forma aberta. E num sítio racista, ainda por cima.
Olhando retrospectivamente, acha que se apaixonava de facto por homens e por mulheres ou estava a tentar perceber se era mesmo homossexual?
A.Q. - Se calhar, as duas coisas. Com 20 anos, sabemos muito pouco. Quando temos uma grande atracção por uma pessoa, quando a atracção e a admiração, e a paixão, se tornam muito intensas, duvido de que não haja uma parte física, seja qual for a pessoa. Esta coisa de nos definirmos como hetero ou homo... não me defino dessa maneira. Defino-me como uma pessoa que gosta de literatura, que gosta de música, de ciência. Deixou de ser um label [rótulo].
O Richard acompanhou os anos finais da vida do irmão, que foram duríssimos. O irmão tinha uma relação muito má com os pais. O Richard tinha de ir a Nova Iorque quase todos os meses para falar com os médicos, com os padres (o irmão converteu-se ao catolicismo), com os amigos. Quando voltava, voltava emocionalmente exausto. Eu só tive essa sensação, menos forte mas muito poderosa, porque dois dos investigadores que tinha contratado para o Centro de Estudos Ambientais em Berkeley, na mesma semana, uma rapariga australiana e um jovem de Boston, vieram ao meu gabinete dizer-me que estavam infectados com HIV. Cheguei a casa e desatei a chorar. Como ele [o Richard] fazia quando vinha de Nova Iorque. Começámos a pensar que precisávamos de ir para um sítio onde aquele deixasse de ser o tópico de todas as conversas.
Aí, já não era o medo de que a doença vos tocasse directamente.
A.Q. - Não, de maneira nenhuma.
R.Z. - Eu estava preocupado com isso. Não era claro quantos anos, ou meses, a infecção levava a mostrar-se. Estava muito perturbado. Ver um irmão com quem nos identificamos - porque crescemos no mesmo quarto - morrer, afectou-me muito psicologicamente. Comecei a lavar as mãos 100 vezes por dia. O meu irmão, um jovem de 34 anos, estava a morrer e não queria morrer. Os meus pais eram loucos. Durante esse período, e depois de ele falecer, comecei a pensar que ia morrer jovem, que não ia ter a possibilidade de escrever livros, de manter a minha relação com o Alexandre. E se eu infectasse o Alexandre? Ou vice-versa. Infectar uma pessoa com quem se tem uma união deve provocar uma sensação de culpa abominável.
O Alexandre contou um pouco da descoberta e assunção da sua homossexualidade. O Richard aflorou o assunto. Pode contar mais detalhadamente como viveu esse período?
R.Z. - Há homossexuais que sabem muito cedo; eu não sabia. Há certas características que as pessoas, nos anos 60, 70, associaram a homossexuais. Por exemplo, que não são grandes desportistas. Hoje em dia sabemos que isso não tem qualquer validade, que há homossexuais muito machões e outros muito efeminados. Eu pensava: "Não tenho estas características dos homossexuais. Gosto de desporto, gosto dos Beatles, gosto dos Rolling Stones. Como é que posso ser homossexual?"
A.Q. - Gostas de desporto e és muito bom em desporto. Isso não ligava com a ideia do homossexual efeminado.
Nessa altura trabalhava-se com gavetas, as pessoas encaixavam aqui ou acolá.
A.Q. - Exactamente. Deixar de estar nos sítios onde há essas gavetas é fundamental.
R.Z. - Pensava: "Não sou normal. As minhas fantasias não envolvem a Sophia Loren ou a Gina Lollobrigida. Talvez seja homossexual. Isso vai criar tantos problemas para mim..." Ainda por cima, não encaixava na comunidade homossexual. "Não quero falar da Judy Garland!" Nessa altura, li um artigo no New York Times sobre o Harvey Milk e sobre a comunidade gay de São Francisco; dizia que havia homossexuais cowboys, homossexuais desportistas... "Se há um sítio nos Estados Unidos onde posso experimentar sexualmente [quem sou], sem preconceitos, sem pressões, deve ser em São Francisco." Fui com uma mala, mil dólares, sem emprego, sem casa.
O seu irmão era homossexual?
R.Z. - Sim.
O facto de haver um outro homossexual na família tornou tudo mais pesado para si?
R.Z. - Terrível, muito mais pesado.
A.Q. - Ainda por cima porque o irmão dele tinha muitas daquelas características da gaveta.
R.Z. - E não queria ser homossexual. Os outros miúdos faziam troça dele em criança. Vivia revoltado. Eu não. Depois da fase em que entrei em pânico, estava totalmente OK. Quando conheci o Alexandre, fiquei logo apaixonado. Quis contar aos meus pais. "Devo contar, porque isto é uma relação, espero eu, que vai durar." Falei com a minha mãe, com quem tinha uma relação mais sólida, primeiro. Sempre brinco que devia ter dito: "Estou apaixonado, mas ele não é judeu" [riso]. Mas isso para ela não seria importante. Disse: "Estou apaixonado, mas é um homem, não é uma mulher." Antes da resposta, continuei: "Não estou com problemas, não quero que te sintas culpada. Para mim é um enorme prazer, é a realização da minha vida." E ela desatou a chorar.
Chorou de tristeza, desapontamento, incompreensão?
R.Z. - A explicação, mais tarde, é que o meu irmão, durante anos e anos, culpabilizava os meus pais. Pensou: "Vamos ter de passar por isto outra vez." Também estava preocupada por mim. Ser homossexual significava que nunca ia ter uma relação duradoura, que as outras pessoas fariam troça de mim. Depois foi à cozinha, o meu pai estava lá sentado e ela sussurrou-lhe do que se tratava a nossa conversa. Ele respondeu: "Ah, é maricas, também." Em inglês: "He is a faggot." É uma palavra muito forte, muito feia. Ouvi um barulho, uma pancada seca. O meu pai tinha desmaiado. Nunca suspeitara que eu fosse gay.
A.Q. - O Richard jogava basebol.
R.Z. - Como é que um atleta pode ser homossexual? A minha mãe ficou um bocado histérica. Era uma cena de uma ópera cómica, ou dramática, italiana, não sei. Hoje rio-me muito.
A.Q. - O que é curioso é que a minha experiência tenha sido, não direi diametralmente oposta, mas muito diferente.
R.Z. - Mas os teus pais não eram provincianos como os meus. Os teus pais viviam no mundo real, os meus não.
Era provincianismo ou era a religião?
R.Z. - Não era a religião. A minha mãe celebrava as festas judaicas, mas era só tradição.
A.Q. - O Richard nem fez o Bar Mitzvah... Nenhum dos nossos pais, com a excepção da minha mãe, que era protestante, e que ia uma vez por ano à igreja, tinha algo a ver com religião. Não fui baptizado.
R.Z. - O meu pai era comunista, pensava que a religião era o ópio do povo, tal como o Marx disse.
A.Q. - Eu ia contar uma coisa importante. O que me surpreendeu não foi ser atraído fisicamente por homens e por mulheres; foi apaixonar-me por uma pessoa, o que é diferente. Tenho alguma pena das pessoas que fazem uma separação entre o emocional e o sexual. (Agora faço essa separação, porque somos essencialmente monogâmicos, não queremos ter outras relações.) É uma pena ver duas pessoas que estão muito atraídas uma pela outra espiritualmente e que têm medo de se tocar para além da festa.
Não se tocam por causa das convenções sociais?
A.Q. - Pois. As mulheres e os homens heterossexuais arranjam gavetas nas quais não ousam entrar. Muitos deles têm medo de ir explorar isso. Até me apaixonar pelo Richard, os homens e as mulheres por quem me apaixonei eram todos heterossexuais. Com todos eles foi possível chegar a um contacto físico e sexual. Claro que com os homens demorou mais tempo; quando uma pessoa se identifica como heterossexual, tem uma grande dificuldade em tocar intimamente outra pessoa [do mesmo sexo].
Freud dizia que potencialmente somos todos bissexuais.
A.Q. - Não sei se somos.
R.Z. - Há pessoas que são totalmente heterossexuais - uma minoria - e há pessoas totalmente homossexuais - outra minoria. São poucas as que são 50/50. Sou 90% homossexual. Já tive relações, mas não seria possível manter uma relação duradoura com uma mulher.
A.Q. - É muito forte em mim esta repulsa pelas camisolas. Pertencer ao Futebol Clube do Porto ou ser do Benfica, ser católico ou ser protestante. Ou ser de Joanesburgo, sul-africano, moçambicano. O que é que eu sou? Tenho uma mãe alemã, um pai açoriano, nasci em Moçambique, vivi na África do Sul muito anos, estive na Califórnia, estou em Portugal, tenho nacionalidade portuguesa e americana. Não me faz confusão nenhuma não saber identificar-me.
A maior parte das pessoas precisa do conforto de saber onde pertence.
A.Q. - Não sei se precisam. Acho que estão doutrinadas para achar que precisam. Vivemos muito em relação à opinião dos outros - como é que nos identificam, onde é que nos põem, como é que nos consideram? Estes muitos anos de vida foram uma caminhada a libertar-me disso.
Se perguntasse a cada um dos dois se lhes passou pela cabeça esconder...
A.Q. - Quando era miúdo, sim. Mas felizmente, a partir dos 20 e poucos anos, não só não escondia, como não tinha orgulho nem vergonha.
Há muitas pessoas que fazem uma vida toda, e quantas casam e constituem família, escondendo a sua verdadeira orientação sexual.
A.Q. - Não quero ser judgmental, não quero ajuizar se as outras pessoas fazem bem ou mal. Ter de passar o tempo todo a fingir que se é o que não se é deve ser doloroso, e não deve servir para nos realizarmos.
R.Z. - Sei que as pessoas têm um contexto de vida e que é difícil, às vezes; mas viver uma vida não autêntica, sob uma máscara, é uma pena.
Há uma questão subsidiária desta, mas que leva pessoas a esconderem-se: o "senso comum" critica em alguns homossexuais o gay pride, a exibição. Por que é que acham que isso ofende tanto?
A.Q. - Não consigo falar pelas outras pessoas, mas conto uma lição de vida muito grande por que passei. Cheguei a São Francisco em Novembro e passei o primeiro Natal sem amigos, com a família nos antípodas da Terra. Estava muito só e sem saber se tinha feito a decisão certa, de me afastar de todo o meu passado. Fui para um café, e a certa altura aproximou-se um queer, um travesti bastante exibicionista. Um indivíduo que era homem, que estava vestido de mulher, todo cheio de pinturas. Senti-me muito incomodado, OK? Ele perguntou se podia sentar-se à mesa, e eu tive uma reacção muito fria, do género...
"Não quero ser visto com ele?"
A.Q. - Um pouco. Ele foi muito educado. Estivemos para aí quatro horas a conversar. Referi-me a mim mesmo como uma espécie de atrasado mental: "Eu que tenho a mania que sou aberto, como é que posso ter tido esta reacção? Esta pessoa, a única coisa que queria era companhia, como eu."
R.Z. - Todos os dias vejo jovens a beijarem-se em frente a toda a gente; isso também é exibicionismo? Se um casal homossexual fizesse isso, toda a gente ficava horrorizada, mas acontece todos os dias em Lisboa e no Porto e ninguém diz nada. Há um duplostandard. Sou gay, sou judeu, sou americano em Portugal. Há a tendência por parte de pessoas liberais, não-progressistas, de dizer: "Não gosto nada dos judeus, mas gosto de si." Ou: "Não gosto nada de homossexuais, mas tu és fixe." Nessas circunstâncias sou o mais judeu, o mais americano e o mais homossexual possível. Não quero ser aceitável. Quem sou eu para julgar aquele homossexual efeminado ou aquele judeu religioso, ou aquele americano que só come hambúrgueres e pizza?
Já tinha estado em público com os dois e nunca vos tinha visto de mão dada. Isso foi uma coisa sobre a qual falaram, que decidiram fazer ou não em função do sítio onde estão?
R.Z. - Andávamos de mão dada em São Francisco, mas não muito. Eu sou mais afectuoso, sou mais táctil. Sou mais como a mãe do Alexandre; éramos iguais.
A.Q. - Andamos muitas vezes de braço dado na rua, quando andamos a passear. As pessoas aqui no bairro todas nos vêem.
R.Z. - Quando chegámos, era muito mais difícil para ele do que para mim.
O Richard era estrangeiro, o Alexandre era português.
R.Z. - Eu dava aulas na Escola Superior de Jornalismo, mas ele era um professor catedrático, ia começar um novo instituto, ia ter de pedir dinheiro de Lisboa [para os projectos científicos do instituto].
A.Q. - Uma vez, na Festa da Árvore no Jardim Botânico, o Richard foi convidado para estar no júri, para apreciar trabalhos feitos por miúdos de escolas. Quando cheguei, fui ter com ele e dei-lhe um beijo na cara. Várias pessoas foram dizer a outras pessoas para me dizerem que tinha de ter cuidado. Até fiquei espantado. Há tantos homens em Portugal que se beijam. Os amigos antigos abraçam-se e dão beijos, os pais e os filhos dão beijos. Não havia ninguém no Porto, desde o reitor até ao ministro, [que não soubesse que são um casal]. Quando veio cá o [Bill] Clinton, o Jorge Sampaio convidou-nos aos dois como casal.
Passaram 22 anos desde a vossa vinda. O país mudou muito. Isto faz-nos voltar ao ponto de partida da entrevista, à decisão de se mudarem para cá. O modo como seriam aceites, enquanto casal, foi uma coisa que também ponderaram?
A.Q. - Perguntei a duas pessoas. Uma pessoa no topo da ordem social, nosso amigo. A resposta que me deu foi: "Não." Era uma pessoa de esquerda, não sei se isso afectou. Depois perguntei a uma empregada doméstica que nos conhecia bem.
Perguntar a uma empregada doméstica era uma forma de ter a reacção do português comum?
A.Q. - Sim, de uma pessoa que anda de autocarro. A resposta dela foi fabulosa: "Olhe, professor, temos tanto trabalho que essas coisas não fazem parte das nossas preocupações." Achei aquilo uma lição ("Você acha que é assim tão importante, que alguém vai ligar alguma coisa?"). As pessoas podem fazer alguns comentários, mas também têm dificuldade em ser agressivos directamente. Nunca senti agressividade nenhuma em Portugal, nunca.
É também por ser o professor catedrático, por ser alguém que vem de fora?
A.Q. - Talvez.
R.Z. - Fiz 34 sessões de escolas no ano passado, falando da minha escrita, de ser judeu, de muita coisa. Eles sabem...
A.Q. - Às vezes convidam-nos juntos, eu vou falar de Ciência, ele de Literatura.
R.Z. - Há dois meses, uma professora disse-me: "Estou preocupada porque o Richard não falou do Alexandre Quintanilha. Pode falar de qualquer assunto, não temos preconceitos." Eu disse: "Não falei do Alexandre porque ninguém perguntou nada sobre isso, mas agradeço na mesma."
Vamos voltar ao começo da vossa história, em 1978. É sempre uma coisa mágica, no meio de milhões de pessoas, encontrar "a pessoa". Pela maneira como falam um do outro, parece que perceberam imediatamente que era "a pessoa".
R.Z. - Eu percebi imediatamente. Ele levou dois ou três dias. Pensava, talvez, que eu fosse drogado [riso].
Como é que se conheceram?
A.Q. - Num café.
R.Z. - Num café maravilhoso.
A.Q. - Num café maravilhoso em São Francisco, que se chama Café Flore, como o de Paris. Ia lá ao domingo de manhã tomar um café e comer um muffin. Estava a conversar, estava a falar de Proust - pretensioso e intelectual! - e ele apareceu com mais duas pessoas. De repente os nossos olhos cruzaram-se. Achei-o lindíssimo, porque era e porque é. Eu estava a falar e a pessoa com quem eu estava levantou-se para ir buscar um café; ele veio ter comigo e começou a conversar. "Por que é que não vamos?" E eu disse: "Deixa-me pelo menos acabar a conversa." Acabei a conversa e fomos. Estivemos uns três dias juntos, sem parar.
R.Z. - Fomos ao meu apartamento, que eu partilhava com duas pessoas. No meu quarto não havia móveis. Dormia em cima de um colchão de sumaúma que tinha comprado por cinco dólares. Estava limpo, tinha lençóis, mas eu não tinha dinheiro nenhum.
A.Q. - A parte mais importante do corpo de uma pessoa é a cara.
Porque a cara diz quem é a pessoa? O que é que vê na cara?
A.Q. - Os olhos, a expressão. Ele tem uns olhos muito expressivos, tem uma boca muito grande, com um sorriso enorme que lhe enche a cara. Tem este nariz maravilhoso, enorme. (A primeira mulher por quem me apaixonei era filha de um casal português/alemão; tinha uns olhos lindíssimos, um nariz muito grande e uma voz quente. Tinha 35 anos e eu tinha 12 anos.)
O que é que um nariz assim pronunciado representa para si?
A.Q. - Deve significar personalidade, ter as coisas muito vincadas.
O Richard gosta do seu nariz? Ou gosta mais agora porque o Alexandre gosta?
R.Z. - Como qualquer adolescente, faltava-me a confiança de achar que era bonito. Quase todos os adolescentes passam por essa fase. Teria gostado de ter a cara do Tyrone Power ou do Randolph Scott [actores americanos] e não tinha. Levou-me alguns anos a habituar-me à minha cara. Nisso a minha mãe foi muito importante, disse-me sempre: "És o rapaz mais lindo do mundo." Depois conheci o Alexandre e ele gostava de mim. Hoje, com 56 anos, estou completamente à vontade dentro do meu corpo.
A.Q. - Eu nunca estive à vontade dentro do meu corpo. Nunca achei que era atraente. Sabia que era relativamente inteligente, que tinha capacidade de sedução. Sei falar, conheço muitas línguas, tenho charme, quando quero, mas nunca me senti fisicamente atraente. Foram estes 34 anos de vida com ele que me fizeram sentir mais à vontade no meu corpo. Foi uma aprendizagem. Tinha uns mitos, [queria ser como] o Paul Newman.
O Alexandre era muito bonito quando tinha 30 anos?
R.Z. - Era e é, e vai continuar a ser. Era diferente de 99,9% dos homens. Essa coisa de ser bonito não é só uma questão física. É a maneira de ele andar, a maneira de olhar, de falar. É óbvio que tem qualquer coisa de bonito dentro dele. Irradia isso na sua cara, principalmente, mas também no corpo. Já vi homens fisicamente bonitos mas que me metem medo; olho para os seus olhos e não há nada. Era incapaz, mas mesmo incapaz, de dormir com uma pessoa assim, mesmo que fosse a pessoa mais bonita do mundo.
Perceberam imediatamente que era "a pessoa". Isso contrariava desde logo duas gavetas em relação à homossexualidade: a da promiscuidade e a de as relações serem curtas.
R.Z. - Quando uma pessoa se apaixona por outra, o primeiro ano e meio, ou dois anos, é de uma energia sexual e espiritual formidável. Vive-se numa espécie de euforia corporal e sexual. Pensava que gostaria de construir uma vida com este homem.
A.Q. - Levei mais tempo a perceber que tínhamos de tomar decisões em conjunto. Quando viemos para Portugal, não foi nada fácil. Eu nunca tinha vivido em Portugal (tinha cá vindo algumas vezes passar férias), ele muito menos. Quando nos mudámos, entrávamos num restaurante e o esterco no chão era uma coisa inacreditável. Nas casas de banho, tínhamos medo de tocar nas maçanetas das portas. Combinámos que vínhamos por um período de dois anos, e depois decidíamos se conseguíamos ficar. O choque cultural foi enormíssimo, para ele e para mim.
A relação podia ter acabado antes da vinda para Portugal, ou não equacionaram vir um sem o outro?
R.Z. - Isso era impensável. Tínhamos uma união muito forte.
A.Q. - E se ele não tivesse conseguido ficar cá, eu também não ficava. Era muito claro.
R.Z. - Passámos por fases difíceis na nossa relação, mas mais no princípio. Porque o pessoal é jovem, não sabe o que quer. São difíceis os primeiros anos de qualquer relação com pessoas muito jovens, que ainda estão a descobrir a sua identidade.
Tiveram aquelas discussões em que parece que não há amanhã? Que não sobrevivem juntos até ao dia seguinte, tal a erosão.
R.Z. - Nunca tivemos isso.
A.Q. - Nunca foi a esse ponto.
R.Z. - Houve alturas em que disse: "Não compreendo este homem! Não compreendo como ele raciocina, a sua maneira de ser." Eu perguntava: "O que é que estás a dizer, por que é que estás a dizer isso, qual é a tua intenção?", e ele respondia: "Não vou falar disso, estás a tentar mudar a minha maneira de ser, recuso entrar nessa conversa."
As pessoas não querem mudar?
A.Q. - Não querem ser forçadas a analisar-se, a explicar qualquer coisa. Temos muito a mania de que a outra pessoa está a interferir na nossa identidade. Vê-se isso muito na maioria dos casais heterossexuais que conheço. Não falam. O diálogo entre as pessoas é muito pobre. A minha ideia era: "Não sei muito bem porque é que sou assim, mas também não quero saber, estou-me nas tintas." That"s the way I am, take it or leave it. [Sou como sou, é pegar ou largar.]
R.Z. - Ele era muito dedicado ao trabalho. Tinha 33 anos, queria afirmar-se como cientista num sítio muito competitivo. Tinha de trabalhar dez horas por dia durante seis ou sete dias por semana para conseguir o que queria. Eu podia ter compreendido tudo isso, mas ele recusou explicar.
Porquê essa competitividade e desejo de vencer?
A.Q. - Saí de Moçambique para a África do Sul, uma cultura nova, e tive de sobreviver. Depois saí dali e fui para outra cultura completamente nova.
Sobreviver num sentido amplo, não num sentido económico.
A.Q. - Em Joanesburgo os meus pais ainda me ajudaram, mas a partir do 4.º ano da faculdade, antes de começar o doutoramento, já não tinham possibilidade. Não podia sair dinheiro de Moçambique, era a Guerra Colonial. Tive de arranjar um lugar como assistente de laboratório em Joanesburgo para me sustentar. E, quando fui para Berkeley, levei dois mil dólares para sobreviver uns meses até arranjar trabalho. Estava muito preocupado com esta questão da sobrevivência física, económica, intelectual e científica.
Insisto na longevidade da vossa relação, depois da turbulência dos primeiros anos. O mais difícil numa relação, independentemente da orientação sexual dos cônjuges, é estarem tanto tempo juntos e bem. Por isso as pessoas perguntam: "Qual é o segredo?"
R.Z. - Temos um bocadinho de sorte, e foi um bocadinho de trabalho. Em qualquer relação que é um verdadeiro casamento (e há casamentos que não são casamentos, são duas pessoas a viver juntas), existe a pessoa A, a pessoa B e o casamento. Há três seres vivos numa relação e tem de se ter muito cuidado com o terceiro ser vivo: o próprio casamento. Tem de se valorizar, polir, prestar atenção, senão a relação vai acabar. Os dois estamos muito conscientes disso. Apaixonarmo-nos por uma pessoa é muito fácil (com algumas pessoas que conheço, acontece de duas em duas semanas). Mas é preciso aprender a respeitar o outro. Para o Alexandre, era mais natural, tinha dois pais muito respeitosos. Eu não tinha isso. Os meus pais diziam coisas um ao outro que eu não diria ao inimigo mais feio do mundo, coisas reles. Apaixonar-me por ele era superfácil, mas respeitar a sua opinião, a sua maneira de ser, as coisas que ele dizia e com as quais não concordava, as coisas que ele fez e que não compreendi, levou-me anos.
A.Q. - Não acredito que haja relações duradouras se cada uma das pessoas não tem a sua própria vida construída. Quando o Richard está a escrever (já sei, porque escreveu vários livros), está de tal maneira obcecado com a escrita que eu sou uma espécie de audiência. E quando estou muito ocupado e ando muito cansado, ele sabe que estou a fazer qualquer coisa que para mim é importante. Nessas alturas, temos muito respeito para não exigir mais do outro. Isto aprende-se. Quando a pessoa começa a sentir uma verdadeira realização pessoal com a realização do outro, quando deixa de haver aquela necessidade egocêntrica - "preciso que me dês mais atenção porque estou inseguro" -, isso é que é uma relação conseguida.
É natural que tenha havido, sobretudo nos primeiros anos, estatutos desiguais. Nem que seja porque existe uma diferença de onze anos entre os dois. O que é que o Richard fazia nos Estados Unidos? A sua formação é Religiões Comparadas.
R.Z. - Mudei para São Francisco e fiz muita coisa. Era um busboy, limpava as mesas num restaurante e era estafeta. Depois comecei a trabalhar como secretário. Aos 26 anos, voltei para a escola, para tirar um mestrado em Jornalismo na Stanford. Mas é verdade, tínhamos patamares diferentes. Eu trabalhava como empregado de mesa e ele não olhava para mim como uma pessoa de menor importância.
Era também esse tempo e esse país. Em Portugal, a estratificação social era (e é ainda) mais vincada. Não imagino que um professor da Universidade do Porto vivesse com uma mulher que serve à mesa.
A.Q. - Pois.
R.Z. - Mas ele era de Moçambique, com um pai açoriano e uma mãe alemã, muito influenciado pela África do Sul e pelos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, não se avalia uma pessoa pelo seu trabalho. Um carpinteiro maravilhoso pode ler Proust e Stendhal. Não temos essa ligação directa entre o que uma pessoa faz e a sua capacidade intelectual ou espiritual, ou a sua sensibilidade. Eu não podia ter mantido uma relação com uma pessoa que pensava menos de mim por ser empregado de mesa.
Foi em Portugal que começou a sua carreira de escritor. No fundo, foi uma outra vida que começou aqui também.
R.Z. - Já tinha escrito muito jornalismo, e tinha escrito 20 e tal contos, e publicado uma dúzia deles em revistas americanas. Chego a Portugal com a ideia para O Último Cabalista de Lisboa. Em Berkeley fui com o cartão do Alexandre à biblioteca tirar livros sobre Portugal, Espanha, século XVI, casas, filosofias, roupa. Continuei a pesquisar aqui e a mergulhar-me na história portuguesa e no meu romance. Em parte, era a minha maneira, indirecta, de me adaptar a Portugal, e de valorizar Portugal, a história portuguesa.
Como é que foi a sua inserção? Quais foram as grandes dificuldades?
R.Z. - Cheguei aqui desorientado. O meu irmão tinha morrido em Maio de 1989, o meu pai faleceu em Junho de 1990. Na América, temos outra maneira de lidar com a amizade. Somos mais informais, falamos de tudo, logo. Um americano, cinco minutos depois de a conhecer, já está a falar do divórcio e do herpes. Mas o português, em 1990, era ao contrário. Falava de filosofia, de arte, do tempo, de tudo menos da vida pessoal. Eu não consigo estabelecer uma relação duradoura e profunda de amizade sem ter a possibilidade de falar da minha vida íntima, medos, dúvidas, problemas.
Sem falar sobre aquilo que verdadeiramente lhe interessava.
A.Q. - Os portugueses chegam a fazer isso, às vezes, depois de uma relação duradoura. Mas Portugal nos últimos anos mudou de uma forma extraordinária, e acompanhar isso foi muito interessante. (Uma das coisas que mais me impressionaram foi o empowerment das mulheres. O 25 de Abril teve um impacto muito maior nas mulheres do que teve nos homens. Elas estavam mais reprimidas. E ver a mudança dramática que houve no investimento na ciência, na educação, que afectava jovens que estavam ao pé de nós - ele também esteve uns anos a ensinar -, foi muito excitante.)
Estiveram para regressar aos Estados Unidos em algum momento?
A.Q. - Estivemos. O director da divisão onde trabalhava veio cá várias vezes e de cada vez perguntava-me se não queria voltar. Estávamos neste choque cultural e a tentação de voltar era enorme.
R.Z. - Ele chegou com grandes projectos. Um deles era criar o que viria a ser o Instituto de Biologia Molecular. Além de todos os problemas [decorrentes] de criar um centro de investigação com centenas de cientistas, havia pessoas que queriam que falhasse. Portugal é um país muito pequeno, com muitas rivalidades, muita mesquinhez. Desculpe dizer, mas todos sabemos isso.
Já pode dizer porque já é português. Nós, portugueses, não gostamos que os de fora digam mal de nós, mas dizemos o pior possível de nós mesmos.
R.Z. - Estas coisas também existem no Estados Unidos. Mas lá, como é um país muitíssimo maior, é possível fazer uma outra vida num outro lugar.
A.Q. - Eu não sabia como é que funcionavam as coisas. Recusava-me a fazer telefonemas a pedir favores. Em Portugal, as coisas eram assim. Não quero que fique com a ideia de que as rivalidades foram muito grandes. Havia uma ou outra pessoa que não gostava de mim. Também tive muita ajuda, muita gente que achou que este projecto valia a pena, que deu muito apoio. Tive apoio de Lisboa para desenvolver um novo instituto, e depois para fundir este com outro, o Instituto de Engenharia Biomédica, para construir um laboratório novo.
Ao longo destes anos, pensaram em casar?
R.Z. - Estamos casados há dois anos e um mês. Antes não era possível.
Nos Estados Unidos também não era possível?
A.Q. - Passou a ser possível nos últimos dez, 15 anos [em alguns estados]. Demos passos pequeninos. Há 30 anos que temos testamentos, que fizemos nos Estados Unidos, dizendo que tudo o que é meu é dele e que tudo o que é dele é para mim, se algum de nós falecer.
R.Z. - Quando a sida começou, o cônjuge do doente não podia visitá-lo porque não estavam casados. Não tinha direito porque não fazia parte da família. Queríamos evitar isso e tomámos medidas.
A.Q. - Outra coisa que também fizemos muito cedo foi o testamento vital, que já existia lá, a exigir que o médico não tomasse medidas suplementares para manter a pessoa viva. O casamento, para mim, nunca teve um significado muito grande, nem simbólico nem pessoal. Tem um significado muito grande, sim, em termos de direitos e deveres das duas pessoas. Mas quando casámos, como eu tinha mais de 60 anos, o casamento teve de ser com separação de bens. Casámos com separação de bens e temos um testamento escrito num notário português.
R.Z. - Está tudo nos dois nomes, as casas, o dinheiro, para ser mais seguro.
Como foi o casamento?
A.Q. - Convidámos um número muito pequeno de pessoas, que são muito íntimas. Ficaram muito emocionadas, foi o primeiro casamento gay em que estiveram. E o notário trouxe-nos um presente de casamento, um disco de música sefardita galega. Uma coisa lindíssima.
R.Z. - Ele tinha pesquisado os dois na Internet e sabia que eu tinha escrito sobre assuntos judeus.
A.Q. - Quando nos mandou o certificado, mandou uma carta em que nos agradecia por lhe termos dado a oportunidade de realizar esta cerimónia pela primeira vez na vida. Fiquei muito comovido. Às vezes fico surpreendido. Entro num avião e vem uma hospedeira dizer-me que tenho de dizer ao Richard que ela gostou imenso do último livro dele. Há aqui uma espécie de - não sei como é que se diz em português... - conluio: as pessoas acham que isto é especial.
Também sente isso?
R.Z. - Posso estar nos sítios mais pequenos de Portugal, aldeias pequenas, e as pessoas vêm ter comigo, agradecem os livros e mandam beijinhos para o Alexandre. É uma grande boa vontade por parte de muita gente.
A.Q. - Não estou nada convencido de que os preconceitos desapareceram. Mas já começa a haver, em muitos casos, uma certa vergonha dos preconceitos.
Por que é que para si foi importante casar?
R.Z. - Simbolismo. Ainda há sítios no mundo em que ser homossexual pode ser punido com sentença de morte, com penas de dez anos, ou mais, de prisão. Para mim, como escritor, como ser humano, o facto de ser um crime exprimir o que é melhor dentro de nós, a afeição, a paixão, a solidariedade e a amizade, é inconcebivelmente injusto. É muito importante reivindicarmos os nossos direitos no Ocidente, para que um jovem que tenha acesso à Internet no Burkina Faso, na Nigéria ou na Birmânia, possa ir ao site do PÚBLICO em Portugal [e ler esta entrevista].
É também por isso que dão a entrevista?
R.Z. - Claro que sim. Vivi num mundo em que não era possível as pessoas das pequenas aldeias dos Estados Unidos assumirem-se. E em Portugal talvez ainda não seja possível em aldeias do interior. Falo disto para que aquela jovem lésbica de Castelo Branco, ou o jovem transexual de Fafe possam olhar para mim e para o Alexandre e descobrir: "Não tenho de mudar para ser aceite. Posso ser como sou. Tenho os mesmos direitos dos outros. Não há cidadãos de segunda em Portugal."
A.Q. - Pensei muito sobre se devia dar esta entrevista ou não, porque não tenho de explicar rigorosamente nada. As pessoas são aquilo que fazem e aquilo que são, e não aquilo que dizem. Há uma pequenina coisa que é muito importante: a questão dos role models. A grande diferença entre um casal heterossexual e homossexual, para já - no futuro não vai ser assim - é que os casais heterossexuais têm filhos, têm netos. No nosso caso, como não temos filhos (já pensámos adoptar, volta e meia, mas não foi uma coisa muito premente), essas relações têm de ser substituídas por outras. Temos de inventar outras partes da nossa relação que sejam alternativas a essas. Temos de nos reinventar e dar a noção a outros gays de que isso é possível, realizável. É preciso que o mundo à nossa volta perceba que não me acho especial, positiva ou negativamente, por ser assim. Tive muita sorte em encontrar uma pessoa como o Richard, tive muita sorte em ter os pais que tive, em viver nos sítios onde vivi, apesar de às vezes me sentir muito só e de ter momentos muito difíceis de afirmação pessoal. Isso também é uma história que vale a pena divulgar. Numa sociedade que está cada vez mais competitiva, é importante as pessoas falarem daquilo que não é competição selvagem. É a partilha, é sentirmos - isto parece uma treta... - que o mundo, se tivermos boa vontade e se funcionarmos de boa-fé, vale a pena.
Que vida fazem na vossa casa de fim-de-semana, em Cristelo?
A.Q. - Muito desse tempo passamos no jardim, a cavar, a cortar, a plantar. Vamos para o jardim (é grande, estamos em sítios diferentes), encontramo-nos à hora do almoço, estamos juntos, depois vamos outra vez para o jardim.
R.Z. - Tenho uma vantagem: trabalho em casa e só faço o que quero. Aos 56 anos consegui isso. Cada vez mais recuso sessões, promoções, porque estou muito bem comigo, estou muito bem com o Alexandre, estou muito bem em casa. Adoro escrever, adoro fazer jardinagem. Por que é que vou interromper isso?
A.Q. - Há quatro anos, decidimos que todos os anos passamos cinco semanas a viajar nas montanhas dos Estados Unidos.
É quando encarna o personagem Clem?
R.Z. - Alexandre não é um nome [que vá bem com aquela paisagem]. Chamo-lhe Clem, como Clemente, e falo com sotaque do west. [riso]
A.Q. - Very entertaining. [riso] Não levamos telemóveis nem computadores. Estou a descobrir uma América que não conhecia. Tinha aquele snobismo de que em África era tudo mais bonito, mais selvagem, e que ir para o meio dos Estados Unidos só para ver campos de trigo e de milho não me interessava nada. As montanhas são lindíssimas.
Fazem as cinco semanas de seguida?
A.Q. - Não. Eu preciso de Nova Iorque, mais do que ele. Preciso de lá estar uns dez dias todos os anos. Fazemos cinco dias em Nova Iorque, depois vamos para um sítio qualquer. A última vez estivemos em Denver, alugámos um carro e fomos passear pelas montanhas. Ficamos em motéis. Parar o carro à porta do quarto é uma maravilha, lembra-me a África do Sul. As pessoas não são sofisticadas, mas são muito genuínas. Nunca falamos de sexualidade ou religião, mas falamos de tudo o resto, de arte, de música, de Portugal. Os americanos em geral são amigáveis e informais.
Isso também vos faz perceber que para essa América não poderiam voltar, nessa não poderiam viver.
R.Z. - Não sei.
A.Q. - Daqui a dois anos tenho 70 anos, tenho de me reformar. Uma das coisas que andamos a discutir é se vamos passar períodos de dois meses, duas vezes por ano, nos Estados Unidos. A mim falta-me... O Richard às vezes goza comigo porque tenho de ir aos supermercados onde ia.
R.Z. - É muito sentimental! Gosta de ir às lojas onde a minha mãe andava.
A.Q. - Vou aos supermercados onde íamos fazer compras. Às vezes, ela vinha connosco. Tenho um gosto enorme em ir aos supermercados, com o mesmo cheiro. Chegar lá assim ao género do Proust, que comia a madalena [e recuperava a sua infância]. A minha madalena são os supermercados! [riso].
R.Z. - É do género do Pingo Doce, muito pouco interessante.
É muito pouco Proust.
A.Q. - Mas cada um tem o Proust que merece!
Retomo a questão: seria possível viverem nessa América profunda e viverem aí abertamente a vossa homossexualidade?
R.Z. - Sim. O bairro em que vivia quando conheci o Alexandre, o Castro, é um bairro residencial, simpático. Quando estive lá no fim dos anos 70, a maioria das pessoas eram jovens que vinham de Tallahassee, da Florida, de Atlanta, de Denver, que iam para São Francisco encontrar a felicidade. Hoje, o Castro é um sítio de homens com mais de 55 anos.
A.Q. - São os que ficaram.
R.Z. - Os jovens que hoje em dia vivem em Tallahassee, em Albany, em Bufallo, em Cleveland, não têm de ir para Nova Iorque ou São Francisco. Podem permanecer na sua cidade e ter uma vida realizada, abertamente homossexual. Isso é uma mudança muito grande nos Estados Unidos.
É recente?
R.Z. - É dos últimos dez anos. Em parte, é um efeito da televisão, de programas como Will & Grace. Apesar de ser um país de religião fundamentalista, nas cidades, para pessoas entre os 18 e os 35 anos, ser homossexual é um não assunto, independentemente de se ser republicano ou democrata, conservador ou progressista.
A.Q. - As séries televisivas tiveram um impacto enorme sobre isso. Da mesma maneira que as séries brasileiras, quando chegaram a Portugal, tiveram um impacto enorme na forma de pensar.
R.Z. - Na Europa, ter um presidente da câmara de Paris ou de Berlim, abertamente homossexual, muda tudo. Agora há pessoas com cargos de respeito que são homossexuais e que têm uma vida como qualquer um. Ele não dá ordens gay para limpar as ruas, ele dá ordens como presidente da câmara. Quando escrevo um livro, não escrevo um livro homossexual, estou a escrever um romance. Estes rótulos vão deixar de existir. Estamos a lutar por isso.
A aprovação do casamento gay em Portugal foi um passo de gigante para que isto deixe de ser um assunto?
A.Q. - Sim. Ter sido aprovado e ter tido pouca contestação, o que é uma coisa muito interessante.
R.Z. - Toda aquela gente que previa o fim do mundo...
A.Q. - Só daqui a vários anos vamos perceber o impacto. Uma das razões pelas quais tive dúvidas sobre dar esta entrevista foi porque já quase deixou de ser um assunto em Portugal. Tinha medo que as pessoas pensassem que estava a fazer a apologia de qualquer coisa, ou que havia a necessidade de falar sobre um assunto.
R.Z. - É um risco. Não quero ser conhecido como um escritor gay, como também não quero ser conhecido como escritor judeu, ou escritor americano. Quero ser conhecido como um bom escritor. Decidi correr esse risco. Os benefícios para a tal jovem de Castelo Branco e para o jovem de Fafe são mais importantes. Há pessoas que estão a sofrer imenso no mundo simplesmente por amarem uma pessoa do mesmo sexo.
Falam inglês um com o outro e esta entrevista foi em português. Teria sido diferente se fosse em inglês?
A.Q. - Provavelmente. Usei muitas palavras inglesas. Como é que seria diferente? Não sei.
R.Z. - Talvez eu brincasse mais. O meu vocabulário é maior em inglês. As nuances da linguagem, consigo medi-las de uma forma diferente. Não me custa nada falar português. Gosto de ser português. Sou uma pessoa muito mais rica, muito mais confiante, mais capaz de escrever excelentes livros - espero eu - por ter esta experiência de viver há 22 anos em Portugal. E também por ter mantido uma relação de 34 anos com o Alexandre. Não sou a mesma pessoa que escreveu O Último Cabalista de Lisboa. Essa pessoa já não existe, felizmente. Uma pessoa que não evolui é um ser morto.
Querem dizer mais alguma coisa ou ficamos por aqui?
R.Z. - Estávamos a falar das razões pelas quais era possível manter uma relação durante tanto tempo e só queria acrescentar que o Alexandre é o meu melhor amigo. Não posso imaginar viver 34 anos com uma pessoa que não fosse o meu mais profundo e mais importante amigo. Adoro passar dias inteiros com ele. Preciso de passar muito tempo sozinho, mas posso passar esse tempo com ele. Eu sozinho ou eu com ele é a mesma coisa. Ele esteve doente, há cinco anos, com pneumonia, e teve de ficar em casa três meses. Estava deitado e eu, como Florence Nightingale, ou Dr. House, estava aqui todos os dias. Era como uma lua-de-mel. Passava 24 horas por dia com ele, e era espectacular. Não há nada que não lhe possa dizer, não sinto qualquer limitação.
A.Q. - Queria dizer duas coisas. A primeira é que votei no Obama muito antes de ele dizer que estava de acordo com o casamento homossexual. E voltei a votar este ano. Espero que ganhe. [A entrevista foi realizada antes das eleições.] Estou com muito receio. O Mitt Romney é muito mais perigoso do que dá a entender. Como é mais inteligente que o George W. Bush, é capaz de ser muito mais perigoso do que ele. A outra questão: estou muito preocupado com o crescimento da iniquidade em Portugal.
É um país muito mais iníquo, agora?
A.Q. - Sim. É das coisas mais graves que vi nestes últimos 20 anos. É criminoso que nestas propostas [do Orçamento do Estado] o aumento dos impostos dos mais ricos seja em percentagens mais baixas que o dos mais pobres. Os pais do Richard viveram o tempo do Roosevelt, que criou trabalho depois da Grande Depressão, o New Deal. Gostaria muito que houvesse um New Deal em Portugal. Os que têm mais deviam contribuir mais, os que têm menos deviam contribuir menos. São os dois grandes dilemas nesta altura, a iniquidade e os miúdos a sentir que não têm escolhas, que a única escolha é ir lá para fora. A consequência disso sobre a saúde mental dos portugueses vai ser muito séria. Já não tínhamos uma saúde mental muito boa [riso]."
Subscrever:
Mensagens (Atom)